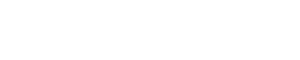Nota do autor
Em 1998 realizou-se em Portugal um referendo que tinha como objectivo que os portugueses decidissem se queriam ou não que o território nacional continental fosse administrativamente dividido em regiões autónomas. O Referendo da Regionalização, como ficou registado para a História, teve um índice de abstenção acima de 50% e o "não" venceu com cerca de 60% dos votantes. A Regionalização fora chumbada pelo povo.
A história que se segue decorre numa realidade alternativa, muitos anos depois deste referendo, tendo como simples pressuposto a vitória do "sim" nesse mesmo referendo.
Qualquer semelhança com pessoas, entidades, realidades ou qualquer outra coisa que possa parecer-se com o que aqui está descrito é pura coincidência e talvez resultado de alguma alucinação de quem escreve.
Boas leituras!!!
0.1
12 de Junho.
Lisboa.
A noite de céu limpo num tom cinza-azulado, clareado pelo meio luar intenso, fazia sobressair a Lua que iluminava a cidade já por si mergulhada em luzes urbanas. A noite era de festa, era a noite de Santos Populares, a noite de Santo António, o pináculo de um mês tradicionalmente dedicado à diversão na capital. Por toda a cidade, o Santo António, o santo padroeiro de Lisboa, que teria o seu dia assinalado no seguinte com um feriado municipal, era comemorado um pouco por todos os bairros típicos, lugares de ruas estreitas apinhadas de gente, portugueses e estrangeiros, residentes e turistas.
O cheiro a sardinha espalhava-se pelo ar, impregnando o ambiente citadino com o aroma de carvão misturado com o peixe ou a carne. Nem todos eram amigos da sardinha e alguns deslocados, alguns desrespeitadores das tradições, pediam uma febra de porco para colocar na fatia de pão, ao invés da bela, saborosa e tradicional sardinha.
A cerveja corria dos barris, servida à pressão em copos de plástico que na manhã seguinte iriam compor a passadeira de lixo que sempre ficava nos passeios para que alguém limpasse. Também a serviam em garrafas pequenas, também elas esquecidas aquando vazias, largadas com os copos de plástico inteiras ou em cacos. Alguém viria limpar... Também havia vinho e bebidas espirituosas. O pessoal queria festa e nunca ninguém ouvira falar em festa sem álcool.
A multidão espalhava-se nas ruelas, uns encostados às paredes sujas engalanadas com decoração festiva, outros a andar daqui para ali e dali para aqui. A massa humana deslocava-se como a lava que escorre de um vulcão, lentamente, pela encosta, pessoas com os braços no ar, protegendo o copo a pingar e a sardinha a escorrer no pão. Fitas coloridas, compostas de figuras de papel, cruzavam as vielas, ligavam prédios separados pelas vias de circulação, essencialmente pedonal. Lisboa era uma cidade cujos bairros típicos se fechavam cada vez mais ao trânsito automóvel.
As janelas tinham manjericos, aliás, tudo tinha manjericos. Todos com mensagens espetadas, todas a começar com o típico "Ó meu rico Santo António...". Havia todo o tipo de desejos que andavam sempre à volta do mesmo. Porém, apesar de centenas, senão milhares de mensagens, naquele ano nenhum papel trazia a mensagem que certamente, daí a alguns dias, milhares... ou talvez milhões de pessoas, desejariam que o santo cumprisse. E seria algo do género "Ó meu rico Santo António, padroeiro desta cidade de encantar. Livra-nos do demónio, que virá para nos matar".
A cacofonia de vozes embrulhava-se com a cacofonia de músicas. Falava-se português com diversas sonoridades, desde a endémica, à cantada do outro lado do Atlântico até ao português de tropeções do hemisfério sul. Pelo meio, muito espanhol e imenso inglês, algum francês e outros dialectos irreconhecíveis. Onde houvesse música, havia fado. Somente alguns locais fugiam à regra, dando uma oferta diferente a quem queria festa noutro ritmo.
Por norma, o ponto alto das comemorações das festas populares em Lisboa era o desfile das marchas, grupos de marchantes representando os seus bairros numa fraternal competição acérrima, bairrismo levado ao extremo saudável a que pode ir um desafio.
Como sempre, a Avenida da Liberdade engalanara-se para receber o evento. Às luzes urbanas diárias juntavam-se os holofotes que fustigavam o espaço com luz, de forma que nada ficasse escondido dos espectadores e da transmissão televisiva. O trânsito fora cortado naquele dia e quase toda a avenida era usada para o evento, se bem que apenas um sector a meio funcionava como uma espécie de sambódromo à portuguesa. Bancadas eram montadas a ladear o asfalto nos passeios largos entre a via central e as laterais. Pelo meio, a tribuna de honra com acesso apenas a convidados com requisitos especiais. Tudo aquilo trazia muito interesse, cada marcha apadrinhada por figuras conhecidas. A cantoria não se diferenciava muito entre cada marcha, a batida era igual em todas, mudavam as letras e talvez a música. Cada grupo recreativo treinava afincadamente para o desfile, preparativos que começavam muitos meses antes, pessoas que dedicavam quase todo o seu tempo livre, depois de um dia de trabalho, para treinar e produzir todo o conjunto de fatos e adereços. Só mesmo com muito amor se conseguia ser tão eficiente em algo que se fazia voluntariamente. As marchas poderiam ser sonoramente idênticas umas às outras, porém, visualmente eram um mar de criatividade, cultura, diversidade e cor.
Naquele ano, o desfile das marchas populares não era o único grande evento da cidade. Na Praça do Comércio iria acontecer um festival de música com várias bandas convidadas. E se na Avenida da Liberdade se juntavam muitas pessoas para além das centenas de marchantes, a Praça do Comércio estava apinhada de espectadores que não enjeitaram a hipótese de assistir a um concerto tão bom e gratuito. Nem todos os lisboetas eram fãs de santos e marchas. Por isso, não foi estranha a enchente na grande praça emblemática de Lisboa.
O grande palco fora elevado em frente ao Arco da Rua Augusta, tapando completamente a visão do rio a quem viesse por essa rua pedonal. As traseiras do palco estavam viradas para o arco e todo o sector entre eles estava vedado para melhor mobilidade de técnicos e artistas. A estrutura era enorme, elevando-se acima do monumento atrás de si. Um gigantesco bloco negro donde brotavam luzes fortes, coloridas, ora para o palco, ora para o público.
As bandas seriam todas portuguesas. Estamos a falar de um evento patrocinado pelo governo nacionalista lusitano, o qual já demonstrara querer fazer do período entre o Dia de Portugal e o Dia de Santo António um momento de exaltação nacional.
As vias rodoviárias a norte e a sul da praça foram cortadas para evitar ter carros a passar tão perto dos espectadores, até porque muitos gostariam de estar a assistir ao longe, saboreando ao mesmo tempo a noite na margem do rio Tejo. Os restaurantes que funcionavam em redor da praça mantiveram-se em funcionamento, mas sem esplanadas, reduzindo a capacidade de jantares, mas contrabalançando com pequenos balcões a vender bebidas e snacks aos espectadores do concerto.
A massa humana aqui também era impressionante, milhares de jovens e menos jovens tapavam o recinto da Praça do Comércio até ao rio. A estátua do rei D. José I era uma ilha que sobressaía no meio da multidão. Na frente desta, um sector reservado aos técnicos de luz e som que trabalhavam em sintonia com o palco.
A Lua incidia o seu brilho nas águas do rio, destacando as três fragatas da Marinha portuguesa que permaneciam ancoradas no Tejo há três dias. Os três navios mais poderosos da Marinha marcaram presença nas comemorações do 10 de Junho e ainda continuavam ancorados entre as duas margens para estranheza de muitos curiosos. Para lá destes, a margem sul escura ponteada por pequenas luzes alaranjadas com maior ênfase em Cacilhas. Perto da Ponte 25 de Abril, também ela iluminada, o Cristo Rei sobressaia no alto da encosta onde a primeira travessia rodoviária lisboeta do rio Tejo desembocava.
A noite era de festa...
A noite deveria ser de festa.
Ninguém soube dizer com clareza como tudo aconteceu. Calcula‑se que as melhores testemunhas foram os que não sobreviveram. No palco do concerto estaria a decorrer a participação da segunda ou da terceira banda. Até nisto a informação era contraditória. A meio de uma canção, aconteceu uma brutal explosão no meio do público. Mais tarde, a conclusão seria que a bomba estava dissimulada no equipamento técnico do sector que dava apoio ao palco, perto da estátua do rei. A brutalidade da explosão ceifou a vida dos técnicos que ali estavam e mais duas centenas de pessoas que se encontravam à volta. Muitas outras centenas ficaram feridas com gravidade, sofrendo no chão empedrado da praça. O pânico tomou conta do local e os espectadores começaram a fugir.
Teria sido um acidente?
Os acontecimentos seguintes tiraram as dúvidas.
Vindos não se sabe bem donde, vários elementos vestidos de negro e encapuçados, apareceram empunhando armas automáticas. Quem se deparou com eles, julgou serem elementos das forças policiais, brigadas de intervenção rápida para acorrer a algo que poderia ser um acto de terrorismo. Contudo, teria sido demasiado rápida a sua aparição. Estes elementos anónimos começaram a disparar para as pessoas, abatendo a sangue-frio todos os que conseguissem até haver quem lhes fizesse frente.
Os poucos polícias que faziam segurança ao evento foram abatidos com facilidade. Os terroristas avançaram pela praça pelo lado poente, espalharam-se em várias direcções disparando indiscriminadamente. Não deveriam ser mais que dez, mas sem oposição e com tantas munições, a matança fora sangrenta. Nem os feridos eram poupados. Quase todos os que não conseguiam, feridos da explosão ou das balas, eram executados impiedosamente com um tiro.
Um atentado terrorista.
Não havia outra forma de o descrever.
Quando finalmente apareceram mais polícias e agentes do SIALE para lhes fazer frente, o grupo iniciou a sua fuga, desaparecendo com a mesma rapidez com que haviam surgido do nada, brotando da confusão causada pela violenta explosão.
No concerto estavam milhares de pessoas. Mais tarde, o balanço viria a cifrar-se em perto de quatrocentos mortos e cerca de mil feridos com mais de metade em estado grave, o que desencadeou o caos nos hospitais da cidade.
A confusão interrompeu o desfile na Avenida da Liberdade. Primeiro o som assustador da explosão, depois a onda de choque e, por fim, as pessoas em fuga vindas de sul. As forças de segurança preocuparam-se em proteger as poucas individualidades que assistiam às Marchas.
As emissões televisivas foram interrompidas. Os principais canais de televisão suspenderam a programação para colocarem no ar blocos noticiosos de última hora. Equipas de reportagem foram enviadas para o local, uma vez que se perdera o contacto com os repórteres que acompanhavam o evento na Praça do Comércio. Inúmeros vídeos e fotos começaram a circular nas redes sociais, no Instagram, TikTok, Facebook... Filmagens de gente que gravava a actuação em palco no momento da explosão, filmagens dos terroristas ao longe a metralhar inocentes, fotos do fogo, dos feridos, gente a fugir, muitas tremidas e outras desfocadas.
Cerca de meia hora depois, o atentado foi reivindicado pelo grupo terrorista que já tinha feito outros atentados em Lisboa, naquele ano, entre eles o assassinato de um ministro. Logo de seguida, o ministro da Administração Interna falou aos jornalistas para condenar o acto e prometer perseguição a todos os elementos do grupo. Seria feita justiça e a pena de morte voltaria a Portugal, jurou ele. O gabinete do primeiro‑ministro informou que o chefe do governo iria fazer uma declaração ao país. Curiosamente, ninguém sabia do Presidente da República...
Portugal vivia tempos muito complicados, tempos que se vinham a agravar desde o início do século. A sociedade portuguesa fracturava-se, os ódios eram semeados e potenciados por quem lucrava com eles. Para muitos, aquele trágico acontecimento seria previsível, apesar de ninguém sonhar com um resultado tão brutal para além dos seus perpetradores.
Quem estava por detrás deste grupo terrorista?
Para se perceber melhor como foi possível chegar aqui, temos de recuar aos finais do século XX e inícios do século XXI...
1.1
Muito se dissertou acerca do resultado que deu a vitória aos defensores da Regionalização, principalmente o elevado número de abstenções que servia de argumento aos derrotados para a repetição do referendo. Outra das questões era saber se o povo estava, de facto, a par do que era a Regionalização, no que se baseava e quais as suas consequências. Numa sondagem realizada no início do ano seguinte, oitenta porcento dos inquiridos não fazia ideia de como o país seria administrativamente dividido, apesar de isso já estar definido no momento do referendo.
Com a legitimidade oferecida pela vitória do "sim" no referendo, o país foi dividido em oito regiões administrativas autónomas, as quais já estavam assinaladas antes da consulta popular, mas que poucos manifestaram interesse em querer saber. Por isso, só quando o plano foi colocado em prática é que os portugueses acordaram para a nova realidade.
Portugal continental ficou então dividido em oito regiões autónomas, Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes e Alto Douro, Beira Litoral, Beira Interior, Estremadura e Ribatejo, Lisboa e Setúbal, Alentejo e por fim o Algarve. Cada região teria o seu governo e assembleia regionais, descentralizando o poder, mas respondendo sempre ao governo nacional do país. E claro, cada região teria a sua capital regional onde estes órgãos seriam sediados.
Os conflitos de interesses começaram logo aí, nessas designações.
Entre Douro e Minho abrangia os distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto. Braga só aceitou a designação de capital da região para o Porto, caso a assembleia regional fosse na cidade dos arcebispos, um pouco à imagem do que acontecia nos Açores, onde a presidência do governo regional está em Ponta Delgada na ilha de São Miguel e a assembleia regional está na Horta que fica na ilha do Faial. Após muita discussão, o governo regional ficou no Porto, a assembleia em Braga.
Os distritos de Vila Real e Bragança compunham a região de Trás-os-Montes e Alto Douro. Vila Real foi designada capital de Trás‑os‑Montes e Alto Douro sem grande alarido, apesar de algumas vozes descontentes em Bragança.
A Beira Interior continha os distritos de Viseu, Guarda e Castelo Branco. Viseu ficou com o destaque vencendo a candidatura a capital da região, sede do governo e assembleia regional. Os políticos não viam com bons olhos ter as instituições regionais em cidades longínquas como Guarda e Castelo Branco.
Coimbra ficou com a sede do governo da Beira Litoral e entregou a assembleia a Aveiro. Eram os dois distritos cujas fronteiras delimitavam a região e demonstraram sempre grande entendimento na organização regional.
Estremadura e Ribatejo era composta pelos distritos de Leiria e Santarém. Houve muita celeuma entre as populações, mas Leiria não abdicou de ficar com a sede do governo regional e da assembleia na região.
O Alentejo, a maior região autónoma do país, englobava os distritos de Évora, Beja e Portalegre. Beja e Évora dividiram o poder, relegando Portalegre para segundo plano. Alguém teria de ficar a perder, três capitais de distrito para duas sedes. Beja chegou a tentar querer para si ambas, justificando que assim nenhuma das outras era favorecida. E porque haveria de ser Beja a sediar o governo e a assembleia? Num golpe de teatro e com muitas movimentações de bastidores, Beja e Évora chegaram a acordo e Portalegre foi vencida nas suas pretensões. Desde essa altura que os portalegrenses se sentem excluídos pelo governo regional.
O Algarve acabou por ser a região onde a organização política foi mais tranquila. Faro era o distrito, já possuía as instituições mais importantes da região e ficou com o governo e a assembleia. Algumas vozes tentaram fazer-se ouvir na tentativa de descentralizar, sugerindo o governo a barlavento e a assembleia a sotavento ou vice-versa, mas as coisas acabaram como haviam sido planeadas ao início.
Na região de Lisboa e Setúbal, composta pelos distritos com o mesmo nome, a capital do país manteve todo o seu poder legislativo e recusou a proposta de implementar a assembleia regional em Setúbal com receio da tendência comunista vir a ser fracturante no futuro da região.
Assim, a proposta de lei votada favoravelmente em referendo e que pretendia descentralizar o poder no país e melhorar o futuro de cada cidadão transformou o território em focos de luta de poder.
No espírito do povo começou a crescer a crença de que o "sim" à Regionalização fora um enorme tiro no pé.
As primeiras eleições legislativas pós aprovação da Regionalização realizaram-se quase um ano depois do referendo. E os eleitores penalizaram os partidos de esquerda, fervorosos adeptos da Regionalização, votando em larga maioria nos partidos de direita, os quais haviam manifestado serem contra a divisão administrativa do território.
A coligação de direita comprometeu-se a resolver a situação, tendo alguns dos seus candidatos avançado com a promessa ilusória de reverter o referendo, o que não viria a acontecer.
No início do século XXI, já com a nova estrutura governativa regional pronta a operar, realizaram-se as primeiras eleições regionais no continente português. A população estava tão descontente com as várias forças políticas que os vencedores eram imprevisíveis em quase todas as regiões, quase parecendo terem sido eleitos numa roleta. Ninguém conseguiu maiorias em nenhuma região, à excepção do Alentejo em que o Partido Comunista dominava. O Socialismo venceu em Lisboa e Setúbal, os Sociais-Democratas no Algarve e na Beira Interior. Entre Douro e Minho ambos os partidos tiveram longas semanas de negociação para formar um governo de coligação. Com a ajuda dos Populares, os Sociais-Democratas conseguiram Estremadura e Ribatejo, mas tiveram de formar nova aliança com os Socialistas para governar na Beira Litoral.
O país tornara-se uma manta de retalhos, esventrada por interesses e sede de poder, criando um ambiente quase perfeito para a formação de novos partidos políticos. Muitas dessas novas forças políticas eram criadas por dissidentes dos antigos partidos que dominavam o panorama da política desde 1974, fracturando cada vez mais essas forças partidárias históricas, reduzindo-as nas suas fatias parlamentares.
A criação e dissolução de partidos tornou-se tão regular que quase nem era notícia, alguns conseguiam eleger deputados nas eleições legislativas seguintes para passados quatro anos desaparecerem do Parlamento e da realidade.
Neste período, somente dois partidos novos se conseguiram formar e consolidar-se ao ponto de começarem a dominar o poder legislativo. O mais antigo, se bem que apenas em dois anos, era o MPP, Movimento Povo Português, criado por figuras de renome da política que atravessaram a crise com a imagem imaculada, mesmo tendo a sua maioria passado pelos partidos do regime. O outro, era uma força radical, extremista de ideais questionáveis, o PNL, Partido Nacionalista Lusitano.
Circularam rumores que o projecto da Regionalização previa a reorganização do poder local, fundindo e eliminando alguns municípios e freguesias. Só que o mau estar das populações para com a nova organização política era tal que os partidos optaram por não mexer em nada.
O poder local foi a sobrevivência de muitos políticos do regime, pois todos sabemos que em eleições autárquicas não são os partidos que ganham, mas sim os rostos a que a população se habituou, políticos de proximidade. E isso criou em muitos municípios uma espécie de hereditariedade do cargo, passando as presidências de câmara de pais para filhos, tios para sobrinhos... Havia concelhos do país totalmente dominados pelas mesmas famílias.
Vinte anos após o referendo da Regionalização, os partidos que tinham assento parlamentar nessa época praticamente deixaram de existir no parlamento, reduzidos a meia dúzia de deputados, à excepção do Partido Comunista que, não tendo muito mais deputados na Assembleia da República, continuava a governar a região autónoma do Alentejo.
O MPP foi o primeiro partido, fora do habitual arco governativo desde a democracia, a conseguir vencer umas eleições legislativas. Só que teve a infelicidade de encontrar um país afundado numa enorme crise económica.
Liderado pelo professor Flávio de Melo, o MPP venceu com minoria, conseguindo formar governo com o apoio dos resistentes deputados sociais-democratas e socialistas, um apoio envergonhado sem direito a lugares no governo de forma a não antagonizar o povo contra o recém-eleito primeiro-ministro. Nessas eleições, o segundo partido mais votado foi o PNL, apesar de muito longe dos vencedores, mas ultrapassando comunistas e verdes coligados em terceiro e aliados do governo em quarto e quinto.
Os desastrosos governos de início de século haviam atirado Portugal para bem perto da bancarrota. A juntar a isto, a crise económica mundial arrastou as maiores economias para a Recessão, puxando consigo as mais fracas como a portuguesa. Por isso, ao receber a legislatura, o MPP viu-se obrigado a pedir apoio financeiro ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Central Europeu por via da União Europeia, levando a subida de impostos e a uma austeridade na vida dos portugueses nunca antes vista. Porém, era o único caminho para salvar o país.
Quatro anos de inferno financeiro, foi assim que ficou conhecido o governo de Flávio de Melo. Quatro anos a fazer os portugueses pagar pelas loucuras de governantes anteriores, sem que o povo percebesse porque haveriam de pagar pela ignorância ou criminalidade dos actos desses indivíduos. Para acentuar o desagrado dos eleitores para com o governo, o líder do PNL, o engenheiro Pinto Henriques, um dos seus fundadores e mentor, como comandante da oposição, atacava o primeiro‑ministro com acusações de incompetência e apresentando-se sempre como se tivesse a solução para todos os problemas do país, caso fosse ele a governar.
Em consequência desse desgaste de quatro anos, Flávio de Melo perdeu as Legislativas seguintes para Pinto Henriques e demitiu-se do partido. E foi assim que o PNL conquistou o governo e com uma surpreendente maioria absoluta.
Contudo, a demissão do professor Flávio de Melo não o afastou da política. Experiente, inteligente e bastante consciente da realidade, rapidamente percebeu que só poderia combater aquela força extremista que alcançara o poder governativo através do mais alto cargo da nação, a Presidência da República. Sendo assim, empenhou-se em construir uma candidatura sólida para as Presidenciais seguintes.
Para a História, essa eleição foi das mais concorridas e disputadas. O marechal Costa Almeida, apoiado pelo PNL, foi o vencedor da primeira volta, à frente de Flávio de Melo. Porém, sem os 51% necessários para a vitória final, o que obrigou à segunda volta, somente com os dois primeiros classificados. Os candidatos que haviam ficado com os votos que supostamente dariam a eleição ao militar retiraram-se do panorama ou promoveram o seu apoio a Flávio de Melo. Consequentemente, o ex-primeiro-ministro venceu com 55% dos votos do eleitorado português.
Assim, este era o cenário político em Portugal, o professor Flávio de Melo era o Presidente da República, o primeiro-ministro era o engenheiro Pinto Henriques, o governo do Partido Nacionalista Lusitano e a Assembleia da República dominada pelos nacionalistas lusitanos com forte oposição dos deputados do Movimento Povo Português, alguma contestação da fatia comunista e o quase silêncio da meia dúzia de deputados que restavam das antigas forças partidárias governativas.
1.2
A manhã de Inverno era de Sol e Pinto Henriques observava o exterior através da janela do seu gabinete no Palácio de São Bento. Perto de completar sessenta anos, Pinto Henriques era um homem de porte austero, rosto fechado e imagem fria como aço. Usava o cabelo penteado para trás, onde as têmporas grisalhas avançavam numa área cada vez maior. O olhar cínico, a expressão insensível, a arrogância... Era temido e gostava de o ser, adorava que as pessoas tremessem só de pensar em si. Orgulhava-se da subserviência que quase todos lhe devotavam, algo que construíra com o passar dos anos e conquista de um poder cada vez mais forte.
Pinto Henriques não era um homem alto, mas também não era baixo. Era encorpado com uma barriga maior que o aconselhável. Vestia sempre fatos pretos, gravatas cinzentas e camisas de um branco imaculado. Bem barbeado, não abdicava de um bigode ralo e das patilhas bem aparadas. A sua visão já não era tão boa como antigamente, mas a suficiente para a maior parte das ocasiões e recusava-se a usar óculos em público, pois considerava-o um sinal de fraqueza. No pulso esquerdo, um relógio de ouro. Na mão esquerda, no anelar, a aliança de casamento. Na direita, no dedo mindinho, um grosso anel de ouro.
Pela janela do seu gabinete, avistava o topo do edifício da Assembleia da República e muitos telhados da capital. Pinto Henriques odiava Lisboa, odiava ter de permanecer na cidade que um dia apelidara de Sodoma e Gomorra portuguesa, referindo-se à praga de prostitutas e homossexuais que nela via. Aliás, Lisboa sempre fora o alvo dos seus argumentos, a cidade dos calões, terra de chulos que viviam à conta do trabalho e riqueza do Norte. Os ideais do PNL, criados por ele, basearam‑se sempre no nacionalismo, na extrema-direita, no ódio aos imigrantes, xenofobia com especial ênfase nas comunidades provenientes das antigas colónias, na defesa da religião católica contra qualquer outra... Porém, com o crescimento de apoiantes e aumento do seu poder junto do povo e tempo de antena para difundir aquilo que os nacionalistas lusitanos defendiam para Portugal, o partido começou a divergir para uma incidência de ataques à capital, pois esta já quase não era uma cidade portuguesa, tal era a corja estrangeira que nela vivia.
Por estranho que possa parecer, estas visões alucinadas foram ganhando cada vez mais adeptos. Num país onde a crise prolifera e as pessoas desesperam com o dia a dia, qualquer doutrina fora do normal bem pintada, bem disfarçada, difundida não na sua real forma, mas da forma que os desesperados a querem ouvir, acaba por ser recebida como a solução de todos os males.
Pinto Henriques não vivia em Lisboa, apenas vinha à capital em obrigação das suas funções de chefe de governo. Adorava a sua terra natal, a cidade do Porto. O único inconveniente do regresso a casa era ter de aturar a mulher de quem há muito se fartara.
Não havia dúvida que chegara onde pretendera, alcançara os objectivos a que se propusera quando criara a doutrina nacionalista lusitana. Porém, os tempos avizinhavam dificuldades e os ventos que o haviam embalado pareciam agora soprar contra si.
Ouviu-se bater à porta. O primeiro-ministro voltou-se, acentuando a expressão fechada. Na sua habitual voz forte, meio cavernosa, permitiu:
— Entre!
A porta abriu-se e por ela surgiu uma mulher alta, morena de pele acetinada. Parecia uma modelo de desfile de moda, linhas corporais bem traçadas, rosto angelical... Vestia um traje formal, onde a saia sobressaía à atenção por ser mais curta que o devido, uma regra dele. Bárbara tinha pouco menos de trinta anos e exercia funções de assessora do primeiro-ministro. Contudo, as suas obrigações profissionais resumiam-se a três tarefas: fingir decentemente que era assessora dele, ser competente em ajudá-lo a descomprimir no gabinete, sempre que o chefe de governo sentisse necessidade, e aquecer-lhe a cama em todas as ocasiões em que ele dormisse fora de casa.
— Chegou o senhor ministro da Administração Interna, o doutor Raimundo Antunes para falar com o senhor engenheiro.
Pinto Henriques anuiu e fez um gesto para que ele entrasse.
Raimundo Antunes era alguns anos mais novo que o seu chefe de governo. Conheciam-se desde a juventude e este talvez tenha sido o primeiro grande aderente à doutrina de Pinto Henriques. A sua função no governo era a de ministro da Administração Interna. No entanto, a sua função principal era a chefia do SIALE (Serviço de Informação em Assuntos Lusitanos e Externos), uma espécie de polícia política que agregava a defesa dos interesses do Estado... Ou melhor, a defesa dos interesses do partido contra ameaças internas ou externas.
O homem que entrou no gabinete era uma figura franzina que aparentava alguma fragilidade. Nada poderia ser mais errado. Raimundo Antunes era tudo menos frágil e talvez fosse a segunda figura mais poderosa do regime. Era o "braço-direito" de Pinto Henriques, apelidado à "boca calada" de Himmler. O cérebro de toda a estrutura de controlo de informação, onde implementara a censura, acabara com a liberdade de imprensa, perseguia contestatários, vigiava tudo o que pudesse ser uma ameaça e controlava todos os dados de todos os cidadãos nacionais ou não que circulassem dentro de território português. Como poderia um partido tão novo e tão recente no governo ter capacidade para tudo isto? Graças aos contactos de Raimundo e ajuda de figuras influentes dos Serviços Secretos dos Estados Unidos da América, as quais lhe forneciam os meios em troca de toda a informação que esses mecanismos obtivessem.
Raimundo sorriu ao cumprimentar o outro. Não revelava um rosto tão fechado, mas tinha um olhar maquiavélico por trás das lentes redondas de uns óculos sem aros. O cabelo rareava na sua cabeça, o que o levava a usar o que restava num corte muito curto.
Pinto Henriques era mais alto e mais gordo. Recebeu o cumprimento com a forma fria como lidava com tudo diariamente. Assim que a porta se fechou, questionou:
— Então?
Raimundo Antunes abriu a pasta e retirou algumas folhas que o auxiliaram na informação que pretendia transmitir.
— Fizemos uma sondagem acerca da intenção de voto para as próximas Regionais. — começou. — Claro que vencemos com uma maioria esmagadora.
Pinto Henriques fez um sorriso escarninho e socou a própria mão num gesto vitorioso.
— Calma, Henriques! — alertou o outro. — As sondagens são enganadoras. Conseguimos implementar um tal clima de medo na população, desde que chegámos ao poder, que as pessoas têm medo de manifestar opiniões contra nós.
— Ainda bem! É assim que queremos o povinho.
— Sim, sim... Só que isso dá-nos uma noção errada do resultado de umas eleições livres. — explicou Raimundo. — Segundo as nossas fontes no SIALE, com eleições livres, iremos perder algumas regiões. Só mesmo o Entre Douro e Minho é garantido.
— Podemos controlar as eleições? — questionou o primeiro‑ministro, sentando-se na sua cadeira de costas voltadas para a janela.
— É difícil. A oposição vai querer observadores internacionais para averiguar a veracidade do acto eleitoral.
— Era o que faltava, ter essa corja da União Europeia a mandar "bitaites" nas nossas eleições.
— Se recusarmos, mais vale dizer que estamos a adulterar as eleições. E iria virar a comunidade internacional contra nós. — argumentou Raimundo, acentuando ainda outro problema. — E ao perdermos as Regionais, é quase certo que perdemos as Legislativas.
— Foda-se! — vociferou o primeiro-ministro, dando um soco no topo da mesa de trabalho. — Era suposto conseguirmos nos quatro anos de legislatura o controlo total para que o poder não nos fugisse das mãos.
— Nem tudo correu como o planeado.
— Pois...
— E não nos podemos dar ao luxo de perder as Legislativas. Se isso acontecer, bem podemos começar a pensar em fugir do país. — alertou o ministro. — Viria ao de cima tudo o que andámos a fazer desde que chegámos a São Bento. E só uma pequena parcela disso chegaria para apodrecermos na prisão.
— Fugir do país também não é solução. — contrapôs Pinto Henriques. — Sabes bem que algumas dessas coisas seriam suficientes para que fossemos perseguidos não só aqui como lá fora. — Raimundo anuiu. — Temos de pôr a máquina partidária toda a funcionar para modificar esse desfecho.
— Só que não temos tempo.
— As Regionais são daqui a um ano. Podemos fazer muito num ano.
Raimundo abanou a cabeça e entregou-lhe um relatório.
— Um dos meus infiltrados no Palácio de Belém conseguiu obter essa informação.
Pinto Henriques leu o relatório, saltando as partes insignificantes e concentrando-se no real problema.
— Tens a certeza disto? — interrogou, desejando que tudo não passasse de rumores.
— A fonte é fiável. Isso que está aí não é garantido, mas é uma possibilidade bastante forte.
— O cabrão do Flávio de Melo poderá estar a pondera dissolver a Assembleia da República e convocar eleições antecipadas?
— Deveremos levar em conta que tenha realmente pretensões de o fazer. O gajo é esperto e tem noção que o nosso momento é mau e que umas Legislativas em breve poderiam trazer para o poder os seus correligionários do MPP.
— Foda-se! Não há quem meta um tiro no meio dos cornos daquele cabrão?
A pergunta era retórica e Raimundo não se manifestou. O silêncio instalou-se na sala. O primeiro-ministro pareceu ponderar a situação, equacionando como poderia reverter a situação a seu favor. Olhou para o seu "braço-direito" e questionou:
— Tens alguma ideia para combater isto?
— Sim. — confirmou o ministro com segurança. — Um golpe de estado. Temos de afastar o Flávio de Melo da Presidência da República.
— E como faremos isso?
Raimundo Antunes sentou-se na cadeira defronte da secretária do chefe de governo. Envergando um sorriso trocista, citou o outro:
— "um tiro no meio dos cornos daquele cabrão".
Pinto Henriques não pareceu convencido.
— Isso só iria acentuar o mal-estar da comunidade internacional contra nós. — vaticinou. — Mesmo negando, a culpa ser-nos-ia atribuída. Não pode ser. Temos de o obrigar a abdicar do cargo e substituí-lo por um dos nossos.
— E como faremos isso?
O primeiro-ministro ficou a ponderar a situação perante o olhar do líder do SIALE. As ideias começaram a formar-se na sua cabeça, como peças de puzzle que se juntam e transformam o abstracto em algo real.
— Vamos raptá-lo. A ele e à família. Obrigamo-lo a demitir-se.
— Vamos virar o povo contra nós. As pessoas parecem amá-lo como se ele fosse um anjo. Então com aquela postura de líder preocupado, sempre a meter-se em tudo, coisas que não lhe dizem respeito. Então quando critica o governo, o povinho parece que vai ter um orgasmo.
— Para implementares um regime autoritário, para implementarmos o regime que nos interessa, uma ditadura, não precisamos de agradar ao povo, somente aos militares. Se tivermos os militares do nosso lado, estamos seguros.
— Mas a comunidade internacional cai-nos em cima, ao fazermos isso. — lembrou Raimundo Antunes. — A União Europeia fode-nos logo com cortes nos financiamentos, lixa-nos as contas, deixa-nos à beira da bancarrota e obriga-nos a pedir um resgate ao Fundo Monetário Internacional. Claro que perante esse cenário, esses cabrões só auxiliarão o país se nos afastarmos.
— Temos de ter um trunfo que os condicione.
Raimundo olhou para o tecto, fazendo contas onde poderia encontrar esse trunfo. Acabou por sugerir:
— Podemos cercar as embaixadas dos países mais poderosos.
— Estás doido, Raimundo? Atacar uma embaixada é um acto de guerra. Invadiam-nos no dia seguinte.
— Não os atacávamos. Dávamos só a entender...
Pinto Henriques abanou a cabeça, refutando a sugestão e interrogando:
— De que serve um refém que todos sabem que não iremos molestar?
O silêncio regressou. As mentes de ambos vasculhavam as peças seguintes do plano. Pinto Henriques levantou-se e tornou a olhar para o exterior avistado da janela do seu gabinete, a maldita capital do país, a ignóbil Lisboa. E nesse instante, fez-se luz na sua cabeça.
— Já sei! — exclamou com uma expressão dura vitoriosa. — Teremos o maior grupo de reféns alguma vez visto. Faremos desta cidade o nosso trunfo contra a comunidade internacional.
De olhos esbugalhados, Raimundo observou incrédulo o seu líder. Aquela ideia parecia uma completa loucura, um absurdo que o levou a questionar mentalmente se o outro não estaria a ensandecer.
Indiferente a isso, Pinto Henriques explicou a sua ideia:
— Teremos de escolher a data ideal. Tudo terá de acontecer em simultâneo. E precisamos dos militares.
— Achas que os militares estão na disposição de entrar num plano desses?
— Temos o nosso ministro da Defesa, o marechal Costa Almeida.
— Ele tem muita influência nas Forças Armadas. Achas que alinha?
— Sim, alinha. — afirmou com toda a segurança. — Alinha porque será ele a ser nomeado para a Presidência. Assim que afastarmos o cabrão do Flávio, a chefia do Estado fica a cargo do presidente da Assembleia da República. E este, como bem sabes, é do nosso partido. A seguir, vamos nomear o marechal.
— Isso é constitucional?
— Caguei para a Constituição, Raimundo! Para esta Constituição. Mas, mesmo pela que está em vigor, se conseguirmos afastar o Flávio do cargo, cabe ao presidente da assembleia ocupar o cargo, tal como acontece nas ausências do Flávio em visitas de Estado ao estrangeiro. E o presidente da assembleia pode nomear um substituto, caso a condicionante do Flávio seja prolongada ou irreversível. Mesmo assim, quando for chegado o momento, iremos apresentar e fazer aprovar uma revisão constitucional, ou seja, implementaremos a nossa Constituição, a nossa lei.
— Precisaremos de dois terços da assembleia.
— Não te preocupes, Raimundo, na devida altura verás como a aprovaremos.
— Ok, ok. E depois?
— A oposição vai insurgir-se. E perante a impotência para nos fazer frente, vão apelar ao estrangeiro. — prosseguiu Pinto Henriques. — No mesmo momento em que raptarmos o Flávio, as Forças Armadas cercam a capital.
— Vão ser precisos centenas, senão milhares, de tropas. E veículos militares. — lembrou Raimundo. — Uma movimentação dessas atrairá muitas atenções.
— Nada disso. Vamos propor que o desfile militar da comemoração do 10 de Junho seja em Lisboa. Assim, teremos uma justificação para ter tantos militares e carros de combate na capital.
— E queres raptar o Presidente em pleno desfile militar?
— Não. O desfile é no 10 de Junho. No dia seguinte, deslocamos parte das tropas para posições estratégicas. No dia 12, à noite, são as Marchas Populares. O Flávio de Melo não falha um desfile. Está sempre na tribuna com o lacaio do Diogo Pereira ao lado, junto da populaça como ele gosta. É nessa noite que executamos o golpe, que o raptamos e que os militares sitiam a capital.
Raimundo anuiu.
— Sim. Estou a perceber a tua ideia.
— Só temos de nos aguentar até lá.
Raimundo ajeitou as abas do casaco cinza.
— Mesmo que dissolva o parlamento, as eleições nunca serão antes do Outono. — disse convicto. — Mas, Henriques, com um plano desses, porque não havemos de ser mais ambiciosos?
— Como assim, Raimundo?
— Podemos aproveitar para aniquilar completamente a oposição. — sugeriu o MAI diante do olhar atento do líder. — Com o Flávio de Melo, estará não só o Diogo Pereira como o Manuel Teixeira. Logo aí capturamos o presidente do governo regional de Lisboa e Setúbal e o presidente do MPP respectivamente. Decapitamos literalmente a cúpula do MPP. Prendemo-los com base numa merda qualquer que inventaremos até lá. — Pinto Henriques ouvia-o com uma expressão entusiasmada. — Para além disso, enviarei vários agentes do SIALE para capturar todos os deputados do MPP. Nós temos toda a informação acerca deles, fazemos vigias constantes, não será difícil interceptar todos nessa noite. — Fez uma pausa, como se estivesse a fazer contas. — Sem os deputados do MPP, teremos mais de dois terços do Parlamento para nós. A oposição dos comunistas e restantes rafeiros desses reles sobreviventes dos antigos partidos do poder será irrelevante. Poderemos alterar tudo o que quisermos na Constituição.
— Não tenho essa certeza, Raimundo. Teríamos de consultar um constitucionalista experiente para nos responder à questão. E isso poderia levantar suspeitas.
— Concordo.
Raimundo ponderou a questão. O seu líder de governo fez uma expressão de que pensariam nisso mais tarde. Contudo, o MAI teve mais um momento de inspiração.
— Como te disse, iremos capturar os deputados do MPP, Henriques. Podemos usá-los a nosso favor, coagi-los a votarem favoravelmente a nossa Constituição. — O primeiro-ministro revelou-se desconfiado do sucesso dessa hipótese. — Sob ameaça, farão tudo o que quisermos.
— Sim, isso parece ser uma ideia interessante. — concordou Pinto Henriques. — Mas, temos de engendrar uma justificação para a nossa acção de afastar o Flávio.
— É muito provável que o Flávio de Melo vá anunciar a dissolução da Assembleia da República antes de Junho. — continuou Raimundo. — Por isso, iremos surgir como uns rebeldes injustiçados que estão a tentar fazer o melhor por Portugal e que foram boicotados por um presidente que só tem em agenda fazer com que os seus correligionários voltem ao poder. Entretanto, planearemos algo mais para impactar o povo contra ele.
No rosto de Pinto Henriques brotou algo raro, um sorriso, uma expressão de vitória anunciada. Contudo, com a mesma rapidez com que surgira também desaparecera.
— Seria importante ter algum apoio dos nossos amigos no estrangeiro.
Os amigos no estrangeiro eram pessoas ou movimentos políticos afectos a doutrinas extremistas de direita, alguns dos quais financiadores do próprio PNL. Se algumas dessas entidades se moviam nas sobras do poder em alguns órgãos de soberania dos países, outros eram partidos com representação parlamentar, uns com mais expressão que outros. Vivia-se uma época em que a Europa parecia caminhar para um contexto político semelhante ao que existia um século antes.
Raimundo Antunes concordou:
— Sim. Tenho um dos meus homens de maior confiança num périplo pela Europa em conversas com essa malta toda. Tem enviado relatórios periódicos. Não tens com que te preocupar.
Pinto Henriques levantou-se e circulou pelo gabinete, ponderando todo o plano.
— Sim... É bem capaz de resultar. — concluiu.
Raimundo Antunes também se levantou.
— Se estiveres de acordo, irei dar instruções aos nossos embaixadores nos Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha. Não poderemos declarar abertamente que estamos a fazer reféns os nossos próprios cidadãos em Lisboa. — O primeiro-ministro assentiu em concordância. — Irão levar uma mensagem secreta de que se houver intervenção deles, começaremos a... matar reféns.
— Resta saber se eles se importam com a morte de cidadão estrangeiros.
— Não somos África, Henriques. A morte de europeus nunca é bom para a imagem dos governantes, faz passar uma ideia de impotência. Para além disso, aqueles que realmente poderiam fazer alguma coisa estarão do nosso lado. Os americanos são amigos dos nossos interesses porque isso significa um aumento da posição deles aqui. E a actual liderança acarinha bastante ideologias como a nossa. Os principais países europeus estarão manietados por estarem minados com problemas internos ou porque os nossos aliados no seu seio nos protegem. Não te preocupes, Henriques. A comunidade internacional vai ladrar, mas a caravana avançará à mesma.
— Mesmo assim, é importante assegurar-lhes que tudo faremos para manter a segurança das suas embaixadas em Lisboa.
— Sim, sim... Mas, com esse compromisso irá também um convite, uma abordagem ligeira, para que as desloquem para o Porto. Afinal, um dos nossos objectivos futuros será transferir a capital para lá.
Pinto Henriques anuiu:
— Sim, mas isso é mais complicado.
— Pois. Acho que isso é algo para o qual a população ainda não está preparada. A tradição é muito forte. Mesmo nos locais onde dominamos o eleitorado, uma alteração dessas não cairia bem.
— Porque são estúpidos. — adjectivou o primeiro-ministro, irritando-se. — Não percebem que estão a ser subservientes a uma cidade que os trata como lixo.
Num tom irónico, Raimundo Antunes concluiu:
— Acho que só se destruíssemos a capital é que concordavam com a deslocação do centro do poder de Lisboa para o Porto.
Pinto Henriques olhou-o com seriedade, ponderando o que o outro acabara de dizer.
— Isso pode não ser assim tão descabido. Afinal, teremos a cidade cercada por militares.
— Por Deus, Henriques! Não estás a pensar bombardear a cidade.
— Não, não. Nada disso. Mas, pensa só nisto. Sitiamos e controlamos a capital. Mantemos os órgãos do Estado a funcionar com normalidade, enquanto vamos perseguindo a oposição. Daremos caça a esses canalhas do MPP... Só que podemos não nos limitar a isso. Perseguiremos todos os lisboetas.
— Como faremos isso? As pessoas não andam com a naturalidade escrita na testa.
— Vamos começar a cortar recursos na cidade, luz, água, comunicações... — prosseguiu Pinto Henriques. — As pessoas vão começar a querer sair da cidade. Os militares controlam todos os acessos. Só poderão passar com a apresentação de documento de identificação, cartão de cidadão ou passaporte. Os militares deixarão passar todos, excepto os naturais de Lisboa. Ao fim de algum tempo, só teremos na cidade a escumalha. Lisboa começará a perder importância, as empresas quererão deslocalizar-se para outras regiões. Nós também nos veremos "obrigados" a transferir serviços do Estado.
— As pessoas irão revoltar-se. Teremos uma onda enorme de contestação na cidade.
— Espero bem que sim. — desejou o chefe de governo. — Será o nosso pretexto para que os militares entrem na cidade e comecem a... abater a população e a causar destruição.
Raimundo Antunes demonstrou algumas dúvidas:
— Isso poderá demorar muito tempo. Não sei se será viável ter os militares num período tão longo destacados num cerco. Podem começar a aparecer manifestações de descontentamento. E se os militares se revoltam contra nós...
— Isso não vai acontecer. Eles vão ter um imenso ódio por esta cidade.
— Estás muito confiante.
— Já me conheces há alguns anos. — recordou Pinto Henriques. — Não achas estranho que esteja a obrigar um gajo a abdicar da Presidência e a colocar lá outro que não eu?
— É um dos nossos.
— Mas não sou eu.
— Ok, ok. E então?
— O marechal Costa Almeida é um dos militares mais conceituados deste país. Respeitado e amado pela grande maioria das Forças Armadas.
— Por isso é que o convidámos para ministro da Defesa.
— Um tipo que não controlamos.
— Sim, Henriques, é verdade. — concordou. — Agora que falas nisso, é de facto estranho que o tenhas escolhido. Estás sujeito a que o tipo te fuja ao controlo, que não seja um mero pau-mandado.
— Então ouve com atenção! — exclamou o primeiro-ministro. — Quando o Costa Almeida tomar posse, tu vais arranjar alguém para lhe meter um tiro nos cornos.
— O quê? — questionou Raimundo perplexo.
Pinto Henriques explicou:
— Arranjas um tipo de confiança. Garantes-lhe imunidade. Iremos facilitar a passagem dele até ao marechal. Ele enfia-lhe umas balas no corpo e grita coisas do género "os lisboetas nunca se vergarão", "viva Lisboa", enfim... merdas deste estilo. Um dos agentes de segurança do marechal terá a missão de abater o gajo, como vingança.
— Tu queres um Oswald. — concluiu Raimundo. — Caraças, Henriques. Queres fazer uma réplica do assassinato do JFK.
— Conhece a História e estarás sempre um passo à frente dos teus adversários. — disse o outro com um sorriso. — Após isso, o que achas que os militares vão sentir por uma cidade que lhe matou um ídolo? O que vão sentir pelos seus habitantes?
— E o SIALE pode espalhar a informação de que existe na capital um grupo de tendência terrorista que engendrara o assassinato do Costa Almeida e poderá estar a planear mais golpes.
— E aí tens mais uma razão para mantermos a capital cercada. Na realidade, aos olhos de todos, só estamos numa caça a assassinos e terroristas.
— Podemos provocar alguns atentados em nome dessa suposta organização criminosa lisboeta. Alimentar a revolta daqueles que permanecem retidos em Lisboa.
— E com isso, como te disse há pouco, — repetiu o chefe do governo. — será o nosso pretexto para que os militares entrem na cidade e comecem a... abater a população e a causar destruição.
— A partir daí, começaremos a preparar a opinião pública. — completou Raimundo Antunes. — Não será difícil transferir a capital para o Porto.
— Deus te ouça, Raimundo! Será o dia mais feliz da minha vida.
O líder do SIALE partilhou o sorriso vitorioso do primeiro‑ministro.
— Voltando à questão internacional. — retomou o MAI. — Também darei instruções aos nossos na Comissão Europeia para transmitirem a mensagem de que condicionar a acção do nosso governo pode aumentar a escalada de conflito na capital.
— E a ONU?
— O nosso embaixador nas Nações Unidas estará a par disto. Com a passagem da informação aos embaixadores locais, o Concelho de Segurança estará ao corrente da... situação.
— Tens lá a China e a Rússia... — lembrou Pinto Henriques.
— Que se estão a cagar para que matemos portugueses. — lembrou o ministro. — A China mantém os interesses intactos em Portugal, já lhes asseverei isso. A Rússia tem mais com que se preocupar. Achas que os russos vão intervir em defesa do MPP ou do comum cidadão lisboeta? Ainda se fosse a União Soviética... Poderiam vir em socorro dos comunas. Agora a Rússia? Não te preocupes.
Pinto Henriques parou defronte do seu ministro e colocou uma mão no seu ombro.
— Caramba, quase podias acumular a pasta dos Negócios Estrangeiros com a tua da Administração Interna.
— Deixa lá isso para o paspalho do Coelho. Ele julga que é responsável por essa pasta, mas não passa de uma marioneta nas nossas mãos.
Os dois riram confiantes.
— És brilhante!
Raimundo Antunes fez um gesto a desvalorizar o elogio.
— Disseste que teremos o apoio dos militares. — recordou o líder do SIALE.
— Sim, o Costa Almeida irá garantir-nos isso.
— Acho que seria importante termos o apoio da Igreja.
— Achas? — questionou o primeiro-ministro, cruzando os braços e fazendo um semblante de quem não concordava com essa importância. — Não somos um país assim tão religioso.
— Sim... Mas... Sempre demos uma imagem de crentes e defensores da Igreja Católica. Começar a matar cidadãos... Enfim, acho que seria bom ter uma figura da religião a demonizar os lisboetas.
Com um sorriso trocista, algo nefasto, Pinto Henriques concordou e disse:
— Algo me diz que já pensaste na pessoa para fazer esse papel.
— O Rathesleon.
— O Arcebispo de Braga?
— Sim. — confirmou Raimundo. — O homem tem uma contenda contra Lisboa, tal como tu.
— E que lhe podemos oferecer em troca da sua ajuda? O homem não vai colaborar connosco só porque sim.
— Oferecemos-lhe o Patriarcado.
— Acabaste de dizer que o homem não suporta Lisboa e ofereces‑lhe um cargo cá?
— Não, Henriques. Retiramos o Patriarcado a Lisboa e oferecemo-lo a Braga. — explicou o MAI. — É isso que ele quer. Sempre defendeu que transferir o Patriarcado de Braga para Lisboa fora uma ignomínia.
— Bolas, isso foi há séculos.
— Seja como for, dá-lhe isso e tê-lo-ás na mão.
Pinto Henriques mostrou-se céptico.
— Não é preciso uma autorização da Santa Sé ou algo do género?
Raimundo Antunes encolheu os ombros.
— Não faço ideia. Mas, isso já será com ele. Na prática, estamos a oferecer ao Rathesleon a chefia da Igreja Católica portuguesa. Ele depois que trate do resto.
— E o actual Patriarca?
A resposta de Raimundo foi uma expressão de quem demonstrava que não seria difícil ajudá-lo a sair do caminho. Fez um sorriso sarcástico:
— É um religioso. Podemos ajudá-lo a ter uma morte santa.
1.3
A chuva caía abundantemente, embatendo nos vidros do luxuoso Jaguar que circulava pelas ruas de Londres, rumo às vias rápidas exteriores. O destino era Heathrow. O veículo fora alugado com motorista para transportar o seu cliente entre o centro da cidade e o aeroporto.
No banco traseiro, o cliente, Rafael Guerra, um empresário português de sucesso, que conquistara a pulso toda a sua riqueza. Oriundo de uma família humilde constituída unicamente pela mãe, Rafael sabia bem o que era a luta pela sobrevivência de quem não tinha dinheiro. A sua mãe, uma heroína, mulher de coragem e luta, tudo fez para que nada faltasse ao filho. Podiam existir dificuldades, mas nunca faltou comida na mesa. A mãe trabalhava numa fábrica de calçado, fazia limpezas, o que fosse preciso para que o filho comesse, se vestisse, estudasse e conseguisse ser alguém na vida. Rafael cumpriu o desejo da mãe, mas já não foi a tempo de retribuir, pois a doença levara-a demasiado cedo, pouco depois de se formar, tinha ele vinte e poucos anos. Já lá iam mais de dez, mas a mágoa da sua morte continuava em si como uma tatuagem, como se parte dele tivesse padecido junto com ela.
Rafael nunca conhecera o pai. Dele apenas sabia que era um merdas nascido em berço de ouro que engravidara a mãe e a abandonara com o mesmo desprezo com que se abandona um saco de lixo. Odiava-o profundamente, odiava uma imagem abstracta, o retrato de um homem que só existia na sua imaginação, a personificação do sofrimento da mãe. Ela nunca lhe contara muito, quase nada, acerca do seu progenitor. Rafael chegara a pensar em contratar alguém para encontrar o velhaco, mas isso seria uma traição à memória da mãe. Se ela quisesse que ele soubesse quem era, ter-lhe-ia revelado a sua identidade. Fosse como fosse, o ódio nunca o abandonara. E desejava ardentemente que a vida desse homem tivesse sido um inferno.
O trânsito intenso despertou-o das memórias. Recusava-se a conduzir em países onde as pessoas conduzem do lado errado da estrada. Sentia-se cansado e algo aliviado por regressar a Portugal, à sua vida, aos seus negócios. Nas últimas três semanas estivera em digressão por alguns países, começara nos Estados Unidos, regressara à Europa pela Alemanha, seguira para França e terminara o périplo no Reino Unido. Não era uma viagem de negócios, fora um favor a pessoas importantes, pessoas cujas ligações lhe permitiram o sucesso profissional de que se orgulhava.
O carro parou defronte do Terminal 2. O seu voo estava marcado para daí a duas horas com destino ao Porto. O motorista parou num sector abrigado da chuva, saiu do carro e foi abrir a porta ao seu cliente.
Rafael saiu do Jaguar sentindo o vento cortante, salpicando-o de gotículas de chuva. Segurou a pasta de trabalho na mão esquerda e recebeu a mala de viagem com a direita, dispensando o motorista. Era um homem que respirava confiança e caminhava com imponência, cabeça erguida e orgulho em si próprio. Quem lhe dera que a mãe o pudesse ver agora. Vestia um fato Armani caríssimo, aliás como era seu hábito, protegido por um longo sobretudo que lhe terminava abaixo dos joelhos. A chuva salpicara-lhe os sapatos elegantes, manufacturados em Portugal, outra característica sua, só usava calçado fabricado em Portugal, uma espécie de homenagem à mãe que tantos anos trabalhara numa dessas fábricas.
Avançou pela cacofonia de passageiros que se cruzavam em todas as direcções, ora para um balcão de companhia aérea, ora para uma porta de embarque. Rafael tinha uma imagem que faria qualquer mulher olhar duas vezes, ou mais, para ele. Era alto, encorpado, rosto digno de uma pintura renascentista, olhos claros, cabelo escuro penteado para o lado e uma barba espessa sempre muito bem aparada. Respirava carisma e olhava para todas as pessoas com um laivo de superioridade que não era mais que a defesa que criara ao longo da vida para combater os que o olhavam com essa mesma superioridade, quando ele era apenas um pobre miúdo filho de uma mãe solteira.
Parou defronte do quadro com a lista de voos em actualização permanente. Vociferou um palavrão bem português ao ver a indicação de que o seu voo estava atrasado. Afinal, só daí a quatro horas estaria previsto o início do embarque. Caminhou numa passada pesada, possesso por ver os seus planos alterados. Iria chegar ao Porto quase de madrugada. Deslocou-se até ao sector onde despachou a mala de viagem. Teve noção de que fora extremamente antipático com a funcionária, mas pouco lhe importou.
Segurando a pasta de trabalho na mão, Rafael caminhou pelo gigantesco terminal. Segurava o telemóvel na mão e consultava os emails, indiferente aos restantes seres vivos.
Apesar de faltar muito tempo para o seu voo, Rafael prosseguiu para a zona de controlo de acesso ao sector de embarque. Constatou que estava irritável, cansado... Queria chegar a casa, tomar um banho e dormir. Aquela parte era sempre a mais aborrecida das viagens, onde quer que fosse, uma fila longa de passageiros, a espera, chegar à zona de controlo, puxar um tabuleiro, retirar os aparelhos electrónicos da pasta, separar tudo, tirar o cinto, o relógio... Ficar de olho para se certificar que nada ganhava pezinhos em mãos alheias... Já para não falar nas vezes em que também o obrigavam a descalçar. Para além de tudo isto, ali no Reino Unido, ainda tinha o controlo fronteiriço de identificação. Não, definitivamente não estava com pachorra para aquilo.
Controlou a irritabilidade e tudo se desenrolou com naturalidade, passando pelo pórtico de detecção de metais e recolhendo todos os seus pertences.
Tomou café num Starbucks. Ainda faltava bastante tempo para o seu voo, daí que optou por ficar sentado na esplanada larga, junto aos corredores centrais, que dava apoio aos estabelecimentos comerciais do terminal. Durante alguns minutos, concentrou-se no telemóvel, mensagens e mais mensagens, assuntos para tratar que se atrasariam com o seu atraso. A companhia aérea portuguesa demonstrava cada vez menor profissionalismo, atrasos nos voos, falhas nos serviços... Até se falava no corte de algumas ligações aéreas, muitas com o Porto como destino. Claro que o actual governo português jamais deixaria isso acontecer.
A sua atenção foi atraída para a mesa ao lado, onde uma jovem se sentara de frente para ele. Permitiu-se a observá-la discretamente. Vestia um vestido escuro de malha com gola alta, mangas compridas e bainha curta. Nas costas da cadeira depositara um robusto blusão de corpo inteiro que a protegera certamente do dilúvio exterior. As pernas cruzadas esguias eram delineadas por meias de lã escura que surgiam por baixo da bainha do vestido e terminavam no topo das botas de cano alto que calçava e que lhe tocavam os joelhos. O cabelo era castanho-claro e a pele alva. O rosto estava parcialmente escondido por duas lentes negras, o que tornara impossível perceber se ela também estaria a olhar para ele. A expressão era triste, a boca de lábios finos tinha o mesmo ar delicado do nariz singelo. As mãos procuraram algo dentro da pequena malinha e dela retirou um telemóvel. Rafael nem se deu conta de que continuava com o olhar cravado nela. Porém, ela parecia nem dar pela existência dele. Numa observação mais atenta, Rafael notou dois traços cruzarem as faces dela, duas lágrimas que escorriam sem pudor abaixo das lentes. Ela soluçou com a concentração no ecrã do aparelho. Ele não tinha dúvidas de que estava a chorar. Porque estaria uma mulher tão atraente a chorar?
Repentinamente, o telemóvel dela soltou uma música possante, um toque de chamada que fez Rafael quase saltar da cadeira com a surpresa. Ela atendeu com a naturalidade de quem deveria achar que aquele toque estrondoso fosse a coisa mais usual para ter como aviso de chamada.
Para sua surpresa, Rafael ouviu-a falar português. Entre tantos estrangeiros, tantas nacionalidades, tantas línguas, a pessoa que se sentara na mesa ao lado falava português. E era português de Portugal, já que em Londres é mais normal ouvir português do Brasil.
A conversa foi rápida, entre soluços de mágoa e muitas lágrimas, ela avisava a pessoa que lhe ligara que o voo estava atrasado. Ao desligar, depositou o telemóvel sobre a mesa e retirou os óculos escuros. Rafael reparou nos olhos verdes inundados. Ela continuava a não reparar nele, era como se toda a realidade à sua volta fosse um filme. Limpou as lágrimas com um lenço de papel.
Nesse instante, Rafael agiu por impulso, fez algo raro em si, agiu primeiro e pensou depois.
— Tenho a certeza que tudo se vai resolver.
Ela não escondeu a surpresa por aquele estranho se estar a dirigir a si. Encarou-o com o olhar magoado de quem carpia mágoas à tempo suficiente para ter umas pálpebras quase inchadas. Contudo, olhou-o com segurança, com confiança, era uma mulher de personalidade forte. A forma como o olhou, desarmou completamente Rafael. Sim, ali estava um olhar onde não se importaria de perder. Sentiu um baque no coração, um formigueiro no estômago.
Rafael temeu ter sido intrometido, nos dois segundos que passaram como se fossem duas horas, receou que a reacção dela fosse agressiva, ofendida.
— Infelizmente não. — respondeu num tom amargurado. Agora que falava para si, Rafael pôde avaliar melhor a voz suave, meio arrastada, terrivelmente sensual. — É daquelas coisas que não têm solução.
Numa tentativa de ser sedutor e espirituoso, Rafael retorquiu:
— Ora, na vida há solução para tudo, menos para a morte.
— Pois... — soluçou ela.
Merda, tocara na ferida sem querer. Então era isso...
— Lamento. — Ela aceitou a palavra com um acenar de cabeça. — Alguém próximo?
— O meu... o... o meu pai.
Bom, ali estava algo que ele não sabia o que era, perder um pai. Nunca tivera pai. Porém, calculou que seria semelhante a perder uma mãe. E esse caminho ele já percorrera.
— Lamento. — repetiu. — Eu perdi a minha mãe há mais de dez anos e ainda sofro com a sua ausência.
Ela fez um sorriso sofrido.
— A minha mãe faleceu há três anos.
Estupidamente, a primeira ideia que veio à cabeça de Rafael foi que então não fora a mãe quem ligara. Quem teria sido? O namorado? Sim, deveria ter sido o namorado. Uma mulher tão bonita não seria certamente descomprometida.
— Calculo que esteja a regressar a Portugal para o funeral. — Ela anuiu. — Também estou de regresso a Portugal. — Ela não manifestou qualquer interesse nas palavras dele. Rafael ignorou e forçou o assunto. — Só que a nossa bela companhia aérea tem o voo atrasado.
— O meu também está. — partilhou, recolocando os óculos no rosto, como quem fecha a porta ao diálogo.
No entanto, Rafael não era homem para desistir às primeiras adversidades.
— Vai para Lisboa?
Ela abanou a cabeça.
— Porto.
Rafael ofereceu-lhe um largo sorriso.
— Que curioso. Eu também.
A reacção dela foi neutra, não dando para concluir se a informação lhe agradara, desagradara ou fora simplesmente irrelevante. Ele estendeu a mão na sua direcção e apresentou-se:
— Chamo-me Rafael.
Mais uma vez, nos escassos segundos de noção horária, Rafael receou ficar com a mão no ar, uma resposta de "que tenho eu com isso" ou outra reacção desagradável. Porém...
— Clara. — informou, apertando-lhe a mão com delicadeza.
Um arrepio atravessou-lhe a espinha ao sentir o toque suave da sua pele. Não conseguia perceber o que estava a acontecer ali, nunca sentira nada semelhante, nem com aquela que fora a sua relação mais longa, quatro anos de namoro até se chegar a um acordo tácito de que tudo terminara. Seria por estar solteiro há vários meses? Não... Ainda duas noites antes fora para a cama com uma belga que conhecera num bar perto de Leicester Square. Não, não era falta de sexo, não era falta de afecto ou de amor. Era...
Não sabia explicar.
— Posso fazer-lhe companhia, enquanto esperamos o nosso voo?
Nova lágrima escorreu pelo rosto dela. Apesar disso, Clara olhou-o com segurança por trás das lentes.
— Não me importa a companhia. — disse ela. — Até me agrada não estar sozinha. Mas, se pensa que isso será um abrir de porta a outras intenções, prefiro que se vá embora.
— Não se preocupe. Tem a minha palavra. — descansou-a, aproveitando para se transferir da sua mesa para a dela. — Seremos só dois portugueses com o voo para casa atrasado e a fazer companhia um ao outro.
1.4
— É a primeira vez que te vejo sorrir. — apontou Rafael, encantado.
O sorriso desapareceu do rosto de Clara, quase como se sentisse que um sorriso não era permitido a uma filha que perdera o pai.
Nem deram pelo tempo passar. Sentados na esplanada com a mesa entre eles, conversavam havia quase duas horas e toda a realidade que os rodeava pareceu inexistente. Nesse tempo, Clara ficou a saber que ele era um homem bem-sucedido profissionalmente, accionista de algumas empresas de lucros avultados e dono de alguns negócios importantes, não referindo outras actividades paralelas que exercia e que eram a razão de estar em Londres. Relatou-lhe as suas origens humildes sem complexos, falou da mãe com orgulho em cada sílaba. Procurando não transmitir a raiva que sentia nas palavras, partilhou com ela a história do pai, o crápula que abandonara a mãe.
— Desculpa, estar a contar-te isto. Falar assim do meu... do tipo que engravidou a minha mãe. Tu terás certamente uma ideia bem diferente do que é um pai.
— Sim. — concordou, esboçando um sorriso afectuoso. — O meu pai era o inverso de tudo o que contaste do teu. — Olhou-o nos olhos com uma expressão terna. — Obrigada por essa franqueza. Não é algo que se conte a uma estranha.
De facto, Rafael estava surpreendido consigo mesmo. Sempre fora muito reservado em relação aos pormenores da sua vida privada, principalmente das suas origens. Contudo, sentiu-se seguro em desabafar com ela.
— Sem querer que isto pareça um "lugar-comum"... Não te sei explicar. Estou a conversar contigo e vejo-te como se te conhecesse há muito tempo.
Clara não se pronunciou. Permanecia atenta a que certos limites não fossem ultrapassados e não houvesse interpretações erradas. Escolheu mudar de assunto e falou de si. Conversavam com o olhar bem cravado nos olhos do outro, sem qualquer retraimento. Rafael ouviu-a com toda a atenção. Clara estava a estudar em Londres, um doutoramento em História. Ela adorava História, desde pequena, algo que fora muito influenciado pela mãe, professora de História. Sem que tivesse essa intenção, Clara deu pistas em relação à sua idade. Rafael fez contas rápidas, tinha mais oito anos que ela. Era filha de uma família abastada da região transmontana, na zona do Douro Internacional, onde a família possuía uma propriedade com vinhas a perder de vista.
— Vives sozinha em Londres?
— Sim. — confirmou com naturalidade. — Ao início, ainda partilhei um apartamento com uns amigos, mas acabei por preferir ter o meu espaço. — Forçou uma expressão divertida. — Sou muito ciosa do meu espaço. Gosto de ter o meu canto, um lugar onde possa estar sossegada sem ninguém a incomodar. Talvez sejam efeitos de ser filha única.
Um pormenor assaltava a mente de Rafael, uma pergunta, uma dúvida que ele queria esclarecer. Porém, receou que ao tentar saciar a curiosidade pudesse ser de alguma forma ofensivo. Mesmo assim, procurou um meio para alcançar o fim pretendido:
— Tens saudades de Portugal? Dos amigos... do namorado?
Clara lançou-lhe um olhar sério. Percebeu onde ele queria chegar. Mais uma vez, as defesas levantaram. Não queria mal-entendidos.
— Sim. Tenho saudades de Portugal. — respondeu com distância. Olhou para o relógio. — Talvez fosse melhor irmos andando para a nossa porta de embarque.
Segurando o casaco no braço, caminharam lado a lado em silêncio. Furaram pelo meio da multidão de passageiros que se movimentavam para partir ou que acabavam de chegar dos quatro cantos do Mundo. Rafael concluiu que cometera um erro, ao tentar saber demais. Ao fim de quase dez minutos, alcançaram a porta de embarque do seu voo.
Quase todas as cadeiras estavam ocupadas, uma vez que já muitos passageiros aguardavam o embarque. Os diálogos em português acentuaram-se e deram a Rafael um gostinho de regresso a casa. Pelos altos vidros virados para as pistas, ele viu que a noite caíra por completo, apesar de pouco passar das cinco da tarde. A chuva continuava impiedosa e provocava nas inúmeras luzes exteriores um efeito esbatido no vidro. Apesar da fraca visibilidade, era notório que o avião que os transportaria para o Porto ainda não se aproximara da manga de embarque daquela porta.
Clara não parou a passada e sentou-se num lugar vago, entre um senhor idoso que conversava animado com o seu grupo de amigos e uma chinesa meio ensonada. Não se mostrou muito preocupada se ele se sentaria por ali ou mais longe ou até se aquele seria o momento em que se afastariam.
Rafael encontrou um lugar vago na fila de cadeiras defronte de Clara. Sentou-se e ficou a observá-la. Clara recolocara os óculos escuros, como se quisesse passar a mensagem que aquelas últimas horas foram agradáveis, mas estava na altura de cada um seguir o seu caminho. Sem saber o que dizer para a recuperar, limitou-se a olhar para ela, contemplando a sua beleza, gravando ao máximo aquela imagem na sua memória para recordar quando ela não passasse disso mesmo, de uma recordação.
— Que se passa? — questionou, séria, sem evitar fungar, lutando contra as lágrimas.
— Nada.
— Desde que te sentaste que estás a olhar para mim.
— Desculpa.
— Não precisas de pedir desculpa por olhar para mim.
Apesar de estarem rodeados por dezenas de pessoas, gente que na sua maioria falava a sua língua, ninguém se interessou pela conversa.
— Não é por isso. — esclareceu ele. — Desculpa a pergunta que te fiz. Não queria deixar-te desconfortável.
— Não deixaste. — respondeu sem convencer.
— Não voltaste a falar comigo.
— Não tinha nada para dizer.
Rafael assentiu. Ok. Se era assim que ela queria terminar o momento de ambos...
O homem sentado ao lado de Rafael levantou-se, segurando o seu saco de viagem e afastando-se para ir falar com outra pessoa que estava duas filas mais distante. Para sua surpresa, Clara levantou-se do seu lugar e veio sentar-se a seu lado.
— Não gosto que me perguntem se tenho namorado. — confessou, retirando os óculos e olhando Rafael nos olhos. — Não tenho problema em dizer se tenho ou não, mas soa sempre a uma pergunta feita com segundas intenções.
— Não tive essa intenção. — interrompeu ele, desviando o olhar.
Clara já não chorava, mas os olhos estavam húmidos. Soltou um sorriso sarcástico.
— Não tens jeito para mentir.
— Eu não...
— Não consegues dizer-me isso, olhos nos olhos. — atalhou ela.
Rafael tinha jeito para mentir, conseguira inúmeras vezes alcançar os seus objectivos fruto da mentira e da falsidade. Mas, não com Clara. Ela era diferente, era...
Não conseguia explicar.
— Tudo bem. — concordou ele. — Posso ter essa curiosidade. — Olhou-a nos olhos, sorrindo-lhe com afecto. — Acho que sei a resposta.
— Achas?
— Não interessa. É irrelevante, Clara. Gosto simplesmente de estar contigo. Podes ter namorado, ser casada, enfim... É-me indiferente. Gostava só que, depois de chegarmos ao Porto, pudéssemos ser amigos.
Clara ficou em silêncio. O sorriso esfumou-se. A expressou facial foi uma mistura de tristeza e seriedade. As lágrimas voltaram.
— Desculpa... — sussurrou, procurando um lenço de papel. — Estou demasiado sensível. — Limpou o rosto e assoou-se com elegância. — Desde que recebi a notícia da morte do meu pai que a realidade parece um vidro fosco. Nunca pensei que se pudesse chorar tanto. — Recompôs‑se. Os olhos verdes húmidos deram tréguas. — Por um acaso do destino, cruzámo-nos e tens sido um suporte involuntário... Não sei como teria aguentado esta espera sozinha. Se calhar, a chorar dez vezes mais. — Um sorriso ferido despontou. — Pelo menos, atenuaste a minha tristeza. Sim, confesso, também gosto da tua companhia. — Ele retribuiu‑lhe o sorriso com um semblante feliz. — Vão ser dias complicados, quando chegar ao Porto. O funeral... — Soluçou. — Podemos trocar contactos. Combinar um café, quando estas brumas na minha vida se dissiparem.
Nesse instante, ecoou um sinal sonoro por todo o espaço, alertando os presentes para uma mensagem. Uma voz feminina, em inglês, enunciava o voo deles e adicionava a informação de que o mesmo fora cancelado. A indignação espalhou-se pelos passageiros que aguardavam. A mensagem foi repetida em português e, tal como em inglês, sem avançar qualquer explicação para o cancelamento.
— Isto não pode estar a acontecer. — suspirou Clara, agastada. Se tudo tivesse corrido normalmente, àquela hora já estaria em casa. — Cancelado? Porquê?
A massa de passageiros moveu-se quase em uníssono para o balcão da porta de embarque onde a funcionária da companhia usara o microfone para transmitir a notícia. Perante as pessoas, ora em português ora em inglês, respondia que não tinha mais informações e que se deveriam deslocar ao balcão da companhia aérea no aeroporto para mais pormenores.
— Espera aqui. — pediu Rafael a Clara, levantando-se da sua cadeira.
Barafustando com enorme indignação, as pessoas dispersaram, seguindo as instruções da funcionária, sem deixar de gritar impropérios acerca da empresa titular do seu voo.
— Porque é que cancelaram o voo? — questionou Rafael, assim que chegou ao balcão.
— Não tenho mais informações. Terá de se deslocar ao balcão de atendimento ao cliente da companhia.
— Quando é que nos levarão para o Porto?
— Não sei. Terá de se deslocar ao balcão de atendimento ao cliente da companhia.
— Vão arranjar-nos alojamento até arranjarem voo?
A funcionária quase que o ignorou, nem olhou para ele e repetiu:
— Não tenho essa informação. Terá de se deslocar ao balcão de atendimento ao cliente da companhia.
— Olhe para mim! — exigiu Rafael num tom forte, o que trouxe alguma apreensão à funcionária. Mesmo assim, manteve a postura altiva e lançou um olhar ao segurança. — Fale com o seu superior, seja ele quem for. Contactem a companhia em Portugal e digam-lhe que um dos passageiros do voo que cancelaram é Rafael Guerra. — Fez uma pausa, vendo o segurança parar a seu lado. Ouviu-o perguntar em inglês se estava tudo bem. Rafael respondeu no lugar da funcionária que sim. Ela fez sinal que estava tudo bem. Rafael continuou. — Informe-os que este atraso e cancelamento estão a causar-me muitos prejuízos. Quero que me arranjem um voo para o Porto o mais rapidamente possível. Se já não puder ser hoje, quero que tratem de me arranjar um hotel de cinco estrelas em Londres. Ah... Informe-os que viajo com uma amiga, pelo que deverão arranjar dois quartos nesse hotel e dois bilhetes em classe executiva para o próximo voo para o Porto. Entendeu tudo?
A funcionária revelou-se céptica. Seria bluff? Ou aquele indivíduo seria realmente alguém importante? Rafael leu-lhe o pensamento.
— Espero que não demore muito tempo a fazer isto que lhe disse. Se quiser, eu posso telefonar directamente para o CEO da companhia. Só que isso ia fazer com que você amanhã estivesse desempregada. — O olhar assustado dela revelou que o levava a sério. — Fixou o nome?
— Senhor Rafael Guerra.
— Senhor doutor Rafael Guerra. — corrigiu prepotente.
Sem perder mais tempo, Rafael regressou às filas de cadeiras.
Clara aguardava sentada, conforme ele lhe pedira. Exceptuando três ou quatro lugares, todas as cadeiras daquele sector de embarque estavam vazias.
— Então?
— Vão tratar do assunto.
Clara não se mostrou muito crente:
— As pessoas foram todas embora. Iam reclamar... Ninguém conseguiu saber nada aqui. Parece que só no apoio ao cliente é que dão informações. Talvez seja melhor também irmos lá e...
— Espera um pouco, Clara. — pediu com tranquilidade. — Aquilo deve estar apinhado de gente.
— Mas, temos de arranjar um voo alternativo, quem chegar primeiro...
Rafael interrompeu-a. Sem ter intenção, colocou a sua mão sobre a dela. Ela não a rejeitou.
— Confia em mim, Clara.
Clara não conseguia disfarçar a impaciência. Temia ficar retida em Londres, não conseguir voar para Portugal e falhar o funeral do pai. As lágrimas voltaram. Tornou a esconder o rosto com os óculos escuros.
Rafael também se deixou vencer pela impaciência, olhando constantemente para o relógio. Será que tinha de ser ele a ligar para os seus contactos privilegiados?
Começaram a chegar mais pessoas, passageiros do voo seguinte a embarcar naquela porta. Sem interesse, ele viu no ecrã que se destinava a Amesterdão.
Um homem baixo, envergando uma farda da companhia aérea que lhes cancelara o voo, aproximou-se deles. Tinha um aspecto obeso, um cabelo oleoso e deixara a simpatia em casa.
— Senhor doutor Rafael Guerra? — questionou, prostrando-se em frente a ele. Rafael confirmou a identidade correspondendo à antipatia. Ele olhou para o lado. — A sua amiga? — Nova confirmação. — Só teremos voo para os senhores, amanhã. Conforme solicitou, reservámos dois quartos num hotel de cinco estrelas na cidade. Na saída do terminal terão um carro e motorista para vos levar ao hotel. Já colocámos as vossas malas no veículo. Também têm mesa reservada no restaurante do hotel para jantarem. Logo que seja possível, enviaremos para o senhor os bilhetes do novo voo, em classe executiva como solicitou. Amanhã, enviaremos uma viatura ao hotel para vos trazer novamente ao aeroporto. — Entregou-lhe um cartão. — A companhia tem todo o gosto em suportar todas as despesas e lamenta todos os incómodos que lhe causámos. Tem aqui um cartão com o meu contacto, caso precisem de alguma coisa.
— Obrigado. — agradeceu Rafael de forma fria.
O homem afastou-se e desapareceu no meio da multidão de passageiros.
Clara observou tudo com espanto. Rafael encontrou o seu olhar embasbacado, completamente incrédula com tudo o que ouvira.
— Eu bem te disse para confiares em mim.
— Vejo que tens amigos importantes. — constatou, pegando no casaco para o acompanhar.
— Não são amigos...
Iniciaram a caminhada pelo longo terminal, pelas inúmeras portas, rumo à saída.
— Obrigada, Rafael! — agradeceu, dando-lhe o braço.
Ele aceitou com agrado que ela tivesse tomado aquela iniciativa. Era bom tê-la tão perto, encostada a si.
Voltaram a passar no controlo de identidade. Afinal, estavam a reentrar no Reino Unido. Tal como o funcionário dissera, na saída, parado e protegido da chuva por uma pala de betão, um Mercedes de gama alta com os quatro piscas ligados. Junto do carro, um homem de fato com uma placa branca com "Mr. Rafael Guerra" manuscrito à pressa.
O trajecto nas estradas onde se conduz do lado errado foi feito em silêncio. Não porque a relação deles tivesse esfriado ou sido novamente atingida por uma pergunta errada ou um comentário despropositado. Foi em silêncio porque estavam cansados.
Sentados no banco traseiro, Rafael correu o risco de colocar a sua mão sobre a de Clara. Não se olharam, não se manifestaram. Clara limitou-se a virar a sua a apertar a dele entre os seus dedos.
1.5
O elevador subia vagarosamente para o quinto piso do hotel. Rafael encostara-se a um dos lados e olhava com ternura para Clara que retribuía o olhar, encostada na parede oposta. Entre eles, um funcionário do hotel com a bagagem de ambos agia com o profissionalismo de tentar ser invisível.
Na chegada ao hotel, o motorista acompanhara-os à recepção e deixou as malas junto ao balcão, informando que estaria de volta na manhã seguinte para os transportar de novo ao aeroporto. Rafael anuiu e agradeceu. Como previsto, o hotel tinha dois quartos para eles, um para Mr. Rafael Guerra e outro para Miss Clara Jordão. Haviam recebido indicações de que eles jantariam no hotel, pelo que solicitaram saber a que horas queriam a refeição. Rafael informou que iriam subir aos quartos e que voltariam a descer para jantar, queriam a mesa para daí a quinze minutos.
As portas do ascensor abriram-se quando o número cinco surgiu no ecrã digital. Rafael indicou ao empregado que fosse à frente para os conduzir aos respectivos quartos.
O 510 e 511 localizavam-se lado a lado. Rafael dispensou o funcionário do hotel, assim que chegaram às respectivas portas.
— Tens preferência? — questionou ele, apontando-lhe os dois cartões de acesso aos quartos. Clara encolheu os ombros e recebeu um aleatório. — Vou só colocar a mala e o casaco lá dentro.
— Eu também. Até já!
Em menos de dez minutos, estavam novamente no elevador a descer até ao piso do restaurante. Clara largara o casaco e os óculos escuros. Era evidente que se penteara e retocara a maquilhagem, disfarçando o inchaço das pálpebras. O olhar esverdeado permanecia com a vermelhidão ténue causada pelos momentos chorosos. O vestido de malha assentava-lhe como uma luva, definindo-lhe a elegância corporal. Rafael também largara o sobretudo no quarto e a pasta de trabalho. Manteve a indumentária formal, mas abdicara da gravata.
O restaurante estava bem composto de clientes. Com o temporal que se abatia sobre Londres, não era difícil perceber que os hóspedes optassem por jantar no hotel, apesar do elevado custo das refeições. No entanto, a bem da verdade, quem tinha dinheiro para pagar um quarto ali, melhor pagaria a refeição.
— Se pretendias impressionar-me, admito, estou impressionada!
Ficaram sentados numa mesa a meio do amplo salão, frente a frente.
— Não. Não tive essa intenção.
— Tens amigos bem colocados na companhia aérea!? — alvitrou Clara.
Rafael não se pronunciou. Não tinha amigos bem colocados na administração da companhia aérea, tinha contactos privilegiados com quem mandava nas pessoas que lideravam essa mesma administração.
A refeição foi feita ao sabor de conversa de circunstância. Clara afastou-se dos assuntos que a fizessem lembrar o pai, de forma a evitar mais lágrimas, e falou dos seus estudos em Londres. Rafael ouvia-a com toda a atenção, demonstrando interesse em tudo o que ela dissesse. Clara também o ouvia com total interesse, os seus relatos de como conseguira os seus primeiros negócios, as lutas que travara, a satisfação de alcançar os seus objectivos... Tudo acompanhado por um prato leve e uma garrafa de vinho tinto reserva.
A ideia era fazer uma refeição rápida e regressarem aos quartos para descansarem. Porém, a conversa estava tão agradável que o jantar já decorria há quase uma hora.
— Posso fazer-te uma pergunta pessoal? — pediu Clara. — Pode ser algo melindrosa. Não levo a mal que não queiras responder.
Sentindo uma felicidade que há muito não sentia na companhia de alguém, Rafael sorriu divertido e disse:
— Não, não sou casado. Nem tenho namorada.
— Não era isso que te ia perguntar. — retorquiu séria. — Nem tão pouco me interessa esse lado da tua vida privada.
Preocupado em que voltassem a cair num clima de esfriamento, Rafael permaneceu sorridente e concedeu:
— Estava a brincar. Podes perguntar o que quiseres.
A seriedade não abandonou o rosto de Clara.
— Nunca quiseste conhecer o teu pai?
O sorriso desapareceu da expressão de Rafael. Clara percebeu que tocara mesmo num ponto melindroso. Ia desculpar-se e recusar uma resposta, mas Rafael disse:
— Mentiria se dissesse que não tive essa curiosidade.
Fez uma pausa, como se recordasse algo.
Clara interpretou-o como uma recusa em abordar o assunto.
— Desculpa, não devia ter perguntado...
— Não é algo de que costume falar. — prosseguiu ele. — Aliás, nunca falei do meu pai com ninguém, excepto com a minha mãe. E com ela foram poucas vezes, não era tema que, obviamente, lhe agradasse.
— Não precisas de te sentir na obrigação de o fazer comigo, só porque... — soluçou, mas lutou contra as lágrimas que a tornaram a ameaçar. — ... só porque eu estou a sofrer com a morte do meu.
Rafael manteve o olhar no dela, sério, quase duro, mas com um laivo de afecto na expressão.
— Não, não o faço por isso. Faço-o apenas porque me sinto confortável em desabafar contigo. — explicou num tom terno. — Só que não tenho nada de bom a dizer acerca disso. E parece-me um pouco nefasto estar a falar mal de um pai, quando acabaste de perder o teu. Ainda por cima, duas pessoas que são tão paradoxais.
— Obrigada por isso. Obrigada pelo cuidado que demonstras por mim. E fico feliz que te sintas confortável comigo ao ponto de falar em coisas tão pessoais, tão... — Não sabia muito bem como definir. — Também me sinto confortável contigo.
O sorriso voltou ao rosto de Rafael.
Uma música estridente ecoou da pequena mala de Clara, pendurada nas costas da cadeira. Alguns dos hóspedes mais perto olharam para eles com uma expressão aborrecida.
— Tens de mudar esse toque. — sugeriu Rafael.
Clara retirou o telemóvel e atendeu:
— Olá Dolores! Sim, liguei há pouco... Ainda estou em Londres, cancelaram o voo... Não, não te preocupes, estou bem... Amanhã... Estou num hotel, a companhia suporta os custos... Não te preocupes. Ligo-te amanhã, quando estiver para partir. Beijinhos.
Desligou.
— A tua família preocupada contigo. — adivinhou Rafael.
— Sim... A Dolores é como se fosse família. É a governanta da nossa casa. Conhece-me desde que nasci. Ela e a irmã são as pessoas responsáveis por tudo o que diz respeito à vida doméstica da minha família. E acabaram por ser a companhia do meu pai na minha ausência. — Sorriu atrapalhada. — Não, não é nada disso. São duas senhoras de muito respeito.
Rafael riu.
— Tens de acreditar em mim. Não me passou pela cabeça isso que possas estar a pensar.
Antes de guardar o aparelho, Clara olhou para o ecrã e viu as horas.
— Talvez seja melhor subirmos. Está a ficar tarde.
— Sim, tens razão.
Abandonaram o restaurante e caminharam vagarosamente até ao elevador. Entraram no transporte e subiram na companhia de mais um casal com aspecto caucasiano, os quais continuaram a subir depois de o elevador parar no quinto piso.
Rafael e Clara não trocaram uma única palavra e prosseguiram a passada vagarosa pelo corredor do hotel, numa postura inconsciente de quem não queria que os momentos partilhados tivessem um fim. Pararam exactamente entre as portas 510 e 511, uma distância de cerca de um metro. Clara retirou o cartão da mala e olhou para Rafael.
— Obrigada por tudo. — disse com um semblante triste. — Foste um raio de Sol em toda a minha neblina. — Soluçou e duas lágrimas despontaram, escorrendo pelas suas faces.
Ele sentia um carinho enorme por ela. E vê-la chorar começava a tornar-se cada vez mais doloroso.
— Posso dar-te um abraço? — pediu Rafael. — Juro que é sem segundas intenções e será com todo o respeito.
Clara sorriu por entre o choro.
— Iria saber-me bem esse abraço. — concedeu.
Rafael anulou a pouca distância que os separava e envolveu-a nos seus braços. Apertou-a com ternura e sentiu-a soluçar mais. Não abriu os braços e deixou para ela a iniciativa de terminar o momento, ficando atento a essa reacção. Clara permaneceu frágil, chorosa, encostada ao seu corpo, sem mostrar qualquer sinal de querer afastar-se. Ele tinha tanto carinho por ela que, instintivamente, decidiu beijar-lhe os cabelos. Ela não reagiu. Rafael apertou-a ligeiramente, intensificando o carinho, baixou a cabeça e arriscou-se a beijar-lhe a face. Não trocaram qualquer palavra e o silêncio do ambiente tranquilo do corredor envolvia-os numa paz quase celestial. Clara não se importou com o beijo e, em resposta, colocou os braços à volta da cintura dele. Tornou a soluçar. Rafael voltou a beijar-lhe o rosto, saboreando a lágrima que descera pela bochecha dela. Clara virou o rosto e Rafael respirou a sua respiração soluçada. Evitando qualquer impulso que estragasse o momento, Rafael afastou o rosto do dela, mas sentiu os braços de Clara apertarem-se na sua cintura. Sem saber muito bem o que fazer, nem teve tempo para reagir, quando Clara surpreendentemente levou a boca aos seus lábios.
O beijo aconteceu como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se fossem namorados de longa data. A boca dela sabia a morango com um travo a sal proveniente das lágrimas que continuavam a escorrer pelo rosto. Começou por ser um toque de bocas, pequenos beijos, carinhos de lábios. Depois, tornaram-se beijos mais intensos, os lábios não se descolavam e as bocas abriram-se...
Clara cortou o beijo. Travou de súbito, apesar de não afrouxar minimamente o abraço nem permitir que ele suspendesse o seu. Olhou-o nos olhos, revelando uma expressão triste misturada com uma sedução intensa. Rafael julgou que ela colocara um fim ao beijo e iria recriminar-se e dizer que aquilo não se iria repetir...
Errado.
Clara parou para o olhar. As lágrimas não cessaram e isso parecia dar ainda mais intensidade ao verde apaixonante. Voltou a beijá-lo. Desta feita, com muita paixão. Para alguém habituado a controlar todas as situações, Rafael estava consciente que era ela quem tomava as rédeas do momento. Beijou-o com ferocidade, abrindo a boca para invadir a dele com a sua língua. Parecia quase que o queria morder, comê-lo...
Mais uma vez, Clara findou o beijo abruptamente. Desta vez, abriu o abraço e deu sinal que ele deveria fazer o mesmo. Rafael estava meio aparvalhado com tudo aquilo e nem sabia o que haveria de dizer. Clara não disse nada, limitando-se a colocar o cartão na fechadura da porta do seu quarto. Abriu-a e entrou perante o olhar e postura imóvel de Rafael. Uma vez lá dentro, virou-se para ele e segurou a porta, dizendo:
— Queres entrar?
Quase como um autómato, Rafael entrou no quarto e parou defronte dela. Clara fechou a porta, colocou o cartão no suporte que ligava toda a electricidade do espaço e passou por ele, quase como se não existisse. Parou a meio da divisão, tornou a olhar para Rafael e pediu:
— Podes voltar a abraçar-me?
Rafael despiu o casaco e atirou-o para cima da cadeira ali ao lado. Caminhou até ela, abraçou-a e retomou o beijo sem perder tempo.
Nenhum deles saberia dizer quantos minutos decorreram. No silêncio do quarto, os únicos sons que se ouviam eram as suas respirações ofegantes e o som dos lábios a entrechocar. Longos e agradáveis minutos em que permaneceram assim, abraçados um ao outro a trocar beijos.
Nunca controlaria o que pudesse acontecer a seguir. E na verdade, Rafael nem se importava que assim fosse. Clara findou os beijos, olhando-o intensamente. Já não chorava, mas o verde brilhante continuava húmido. Não disse uma palavra e afastou-se para se sentar na poltrona perto da cama. Moveu-se como se ele não estivesse ali. Tranquila, começou a desapertar o fecho das botas e descalçou-as. Rafael nem se apercebeu que ficara como uma estátua a observá-la.
— Vais ficar aí a olhar para mim? — questionou Clara num tom amável e com um sorriso trocista. — Não queres tirar essa roupa?
Sem desviar o olhar dela, Rafael começou a desabotoar a camisa. Viu-a levantar-se da poltrona, levar as mãos por baixo da saia e puxar os collants de lã. Tornou a sentar-se e despiu cada perna vagarosamente e com enorme sensualidade. Ele respondeu, despindo as calças e juntando‑as à camisa na cadeira onde já estava o casaco. Clara levantou‑se novamente. Em pé, as suas mãos seguraram a bainha do vestido e puxou-o para cima para o despir pela cabeça. Rafael viu a totalidade das suas pernas esguias, as cuecas em estilo boxer feminino que a cobriam da cintura até às virilhas, a barriga, o umbigo singelo... O vestido continuou a subir e para surpresa dele, constatou que ela não tinha sutiã, dando por si a olhar para dois seios redondos pequenos de volume perfeito e mamilos ténues.
Clara ficou atrapalhada com a última fase de despir o vestido. Parecia que a gola não queria passar pela cabeça, deixando-a a debater-se com os braços presos nas mangas e cega pelo tecido. Rafael aproximou‑se, ainda com os olhos no peito dela. A sua vontade maior era colocar uma mão sobre cada seio. Porém, segurou-lhe os braços e disse:
— Espera. Eu ajudo-te.
Com delicadeza e carinho, puxou o tecido de malha e libertou-a do vestido. Ela encarou-o com um sorriso envergonhado, suspirando:
— Anda uma mulher a tentar ser sensual...
Rafael beijou-a, mas ela afastou-o. Atirou um olhar para a única peça de roupa que ele conservava, como se lhe indicasse que se esquecera de algo. Ele percebeu. Olhos nos olhos, Clara despiu os seus boxers. Rafael não evitou que a sua atenção despontasse para o tufo de pelos claros entre as virilhas. Ela pareceu ler-lhe os pensamentos.
— Não estava a contar que isto acontecesse. Teria certamente feito uma visita à esteticista antes.
Rafael sorriu e fez uma expressão a desvalorizar.
— És perfeita! — elogiou, despindo também os seus.
Clara fez um semblante de espanto, ao vê-lo completamente nu. Quase estremeceu. A natureza fora generosa com Rafael... demasiado generosa.
Se Rafael percebeu o seu espanto, ignorou. Aproximou-se dela e pegou-lhe ao colo, qual noivo recém-casado que transporta a sua esposa pelo quarto para a cama. Beijou-a com ternura e depositou-a sobre o colchão. Deitada, Clara puxou-o para si.
O que sucedeu a seguir aconteceu com incrível naturalidade. Nem parecia que se tinham conhecido naquele dia. Tudo se desenvolveu como peças de puzzle que se encaixam na perfeição. Ele era extremamente dócil e carinhoso com ela. Os receios de Clara foram infundados, Rafael fora paciente o suficiente para que ela descobrisse que a generosidade da natureza cabia completamente em si, sem dor e com agrado. Para além disso, Rafael era um homem que sabia com mestria como dar prazer a uma mulher, provocando nela vários orgasmos antes de depositar em si toda a libertação do dele.
Extasiado, Rafael deixou-se cair para o lado vago da larga cama individual. Clara aproveitou o movimento para sair do colchão. Ele ficou a contemplar o seu corpo nu a deslocar-se pelo quarto até ao WC privado. Ficou com dúvidas sobre o futuro. Como reagiria ela, após aquilo? Mal tivera tempo para a olhar depois do orgasmo. Esperava que ela tivesse ficado ali, mais algum tempo, ambos a olhar para o tecto de mão dada e a sorrir feitos parvos. Ao invés, ela saiu da cama como se tivesse pressa em se ir embora. Ouviu a água a correr, a descarga do autoclismo... Segundos depois, a porta reabriu-se. Clara reapareceu com uma expressão neutra e indiferente a estar completamente nua na sua frente.
— Se quiseres usar... — sugeriu, apontando para a porta donde saíra. — Estás à vontade.
Era certamente uma indicação educada, uma forma polida, de lhe dizer para se arranjar e ir embora. Rafael saltou do colchão e seguiu a sugestão. Ela avançou para o lado da cama oposto ao dele, evitando que se cruzassem. Começou a sentir-se desconfortável e não se demorou muito no WC.
Ao voltar ao quarto, Rafael encontrou Clara já deitada entre os lençóis e o grosso edredão. Sorriu-lhe, procurando interpretar o que lhe ia na mente, sem sucesso. Viu a sua roupa na cadeira e dirigiu-se para lá.
— Fica comigo, esta noite! — ouviu-a pedir num murmúrio.
— Queres que durma contigo?
— Não quero ficar sozinha. — confessou. — Importas-te?
— Claro que não. — respondeu ele, esquecendo a roupa e avançando para a cama.
Clara levantou o edredão para que ele entrasse, revelando que permanecia nua. Rafael enfiou-se nos lençóis e deitou-se a seu lado. Clara aninhou-se ao seu corpo, encostando a cabeça no ombro dele. Rafael colocou o braço a envolver-lhe o tronco e a mão sobre a sua barriga. Ela deu-lhe um beijo no rosto e acariciou-lhe o peito musculado, pedindo-lhe que apagasse a luz.
Envoltos na escuridão do quarto, Rafael sentiu-a soluçar. Percebeu que ela estava a chorar, as memórias do pai haviam voltado. Não havia nada que pudesse dizer para atenuar a mágoa, daí que se limitou a apertá-la mais contra si e a beijar-lhe o cabelo. Aos poucos, deixou-se adormecer.
A princípio Rafael não sonhou, mas depois o seu dormir tornou‑se intranquilo, trazendo-lhe para o guião dos sonhos a imagem da mãe, o seu sofrimento grávida e sozinha, a figura abstracta do homem que a abandonara... Viu-se ao lado da mãe grávida, auxiliando-a, dizendo-lhe que nada tinha a temer e que ele estava ali para a proteger do crápula abstracto. Estranho, como podia ele estar adulto ao lado da mãe e ao mesmo tempo dentro da sua barriga? Mesmo assim, não conseguia dizer a si próprio que aquilo era um sonho. Tornou a ver-se ao lado da mãe. Agora já não era adulto, era uma criança indefesa. Não conseguia proteger a mãe e o homem abstracto dava sinais de o querer arrancar a ela, separá-lo da mãe. De súbito, o sonho apagou-se. As cenas tormentosas foram-se desvanecendo na sua mente adormecida, como se se afastassem para longe, repousando-o.
Sentiu toques quentes no pescoço. Eram toques reais. Constatou que já não estava a dormir, mas pouco conseguiria ver se abrisse os olhos. Mesmo assim, demorou alguns segundos a reencontrar a realidade, onde estava, com quem estava. Percebeu que os toques quentes eram beijos ternos que Clara lhe dava no pescoço. Estava acordada e silenciosa. Tinha uma mão no seu rosto e a coxa sobre a sua cintura. Sentiu os seus seios encostados ao tronco. Decidiu dar sinal de si acariciando-lhe as nádegas.
— Acordei-te? — murmurou num tom sensual.
Rafael respondeu com um riso baixo. Usando o braço com que a envolvera ao adormecer, puxou-a para cima de si. Ela colaborou, rolando e deitando-se sobre ele. Procurou-lhe a boca no escuro.
Deveria ser madrugada. Pela janela, fracos sinais da claridade da iluminação urbana da cidade. As coxas de Clara deslizam pelas pernas dele. Sentiu o corpo dela elevar-se ligeiramente para manobrar a excitação que despontara nele. Mais uma vez, transformaram-se num só como se tivessem nascido um para o outro.
Desta vez foi demorado, muito demorado. Saborearam cada momento como se fosse uma preciosidade. Clara controlou o ritmo, os movimentos, seria ela a conduzir a dança. Rafael não se importou, fora assim desde o primeiro beijo, tendo sido diferente somente quando fizeram amor pela primeira vez e ele ficara por cima, ele ditara o ritmo. Agora, era ela quem estava por cima, seria ela a tocar aquela música. Rafael sentiu-se nas nuvens, Clara também sabia como dar prazer a um homem.
O orgasmo foi simultâneo e brutal para ambos. Ela deixou-se ficar sobre ele, beijando-o com ternura. Encostou a boca ao seu ouvido e sussurrou:
— Sinto-me mal em estar a trair o meu namorado.
A confissão foi surpreendente e atingiu Rafael como uma lança que lhe trespassava o coração. Ficou petrificado. Ouviu-a sorrir trocista e voltou a sussurrar:
— Estou a brincar contigo, tonto. Não tenho namorado.
Ele respirou de alívio. Abraçou-a com firmeza e respondeu ao sussurro:
— Agora já tens.
Foi a vez de Clara se surpreender. Não esperava aquilo.
— Vamos com calma. — alertou sem diversão na voz.
Rafael percebeu a mensagem. Contudo, não era o momento para aquela conversa.
Clara rolou para o colchão. Estendeu-se de lado com as costas voltadas para ele. Rafael virou-se e encostou o peito às costas dela. Clara pressionou-se contra ele e aninhou-se como uma concha, procurando a sua mão no escuro e puxando-lhe o braço para que a envolvesse.
Adormeceram pouco depois.
Só voltaram a acordar ao amanhecer, quando o despertador do telemóvel de Rafael ecoou estridente pelo quarto.
— Ainda falas tu do meu toque de telemóvel... — protestou Clara, ensonada.
Rafael desligou o apito, lutando para acordar. Voltou-se para Clara e reparou na vermelhidão dos seus olhos, sinal claro que voltara a chorar durante a noite. Beijou-lhe os lábios com ternura.
— Hora de levantar. — disse ele. — Temos um avião à nossa espera.
— Se não cancelarem... — receou, quase desejando isso para que pudesse dormir mais um pouco.
Saindo da cama, Rafael procurou a sua roupa e vestiu-se de forma atabalhoada, dizendo:
— Vou para o meu quarto. Preciso de um banho. Encontramo‑nos daqui a uma hora. Venho aqui ter contigo.
— Está bem. — concordou, atirando o edredão para trás e começando a levantar-se.
No seu quarto, Rafael tomou um banho, barbeou-se e perfumou‑se. Vestiu uma camisa lavada, uma gravata nova e o fato do dia anterior. Decidiu desfazer a cama onde não dormira, pois ninguém tinha nada que saber que dormira no quarto da amiga. Arrumou as suas coisas, pegou na mala de viagem, na pasta de trabalho e saiu do quarto. Atravessou o escasso metro que o separava do quarto de Clara e, à hora combinada, bateu à porta.
Clara abriu a porta rebocando a sua mala de viagem. Recebeu-o com uma expressão triste e voltara a usar os óculos escuros. Vestia umas calças de ganga escuras, uma camisola de lã, o casaco longo sobre as costas e calçava as mesmas botas altas.
— Queres ajuda?
Ela abanou a cabeça.
Desceram até à recepção para fazer o check-out. Deixaram as malas com o recepcionista e aguardaram pelo motorista no bar do hotel. Nenhum deles tinha fome e ambos pediram um café forte.
Estranhamente, todos os assuntos pareciam esgotados entre eles. Poucas palavras trocaram ali e na viagem do hotel até ao aeroporto. Foram recebidos por um funcionário da companhia aérea que recolheu as suas bagagens de porão. Seguiram para as filas de acesso ao controlo de passageiros e bagagens de mão. Depois, nova passagem pelas autoridades alfandegárias para controlo de identidade. Por fim, estavam na zona de espera, junto à sua porta de embarque.
— Estás bem? — questionou Rafael.
— Que te parece? — ripostou com alguma agressividade. — Estou a caminho do funeral do meu pai.
Rafael não conseguia perceber aquela alteração de estado de espírito. Optou por não insistir.
Cerca de meia hora mais tarde, uma hospedeira aproximou-se deles e pediu que a acompanhassem até ao balcão. Colocou-os no início da fila V.I.P. e informou todos, pelo microfone, que se iria iniciar o embarque.
Clara e Rafael foram os primeiros a avançar pela manga de embarque até à entrada do avião. Dois elementos da tripulação recebiam os passageiros junto à porta do cockpit. Ofereceram-lhes um largo sorriso e bons dias.
Clara sentou-se junto à janela. Rafael, a seu lado, acomodou-se, aproveitando os últimos minutos antes de descolarem para consultar as mensagens no telemóvel.
Os restantes passageiros foram entrando. Não havia muitos para a classe executiva, daí que quase todos os que ali passavam iam para as filas da classe económica.
— Desculpa se fui bruta, há pouco. — disse Clara, subitamente. Rafael sorriu e encolheu os ombros como se não tivesse importância. — Estão a ser momentos horríveis.
Rafael esperava que ela não estivesse a incluir a noite anterior no rol.
— Eu compreendo.
Não voltaram a falar em toda a viagem.
O voo demorou cerca de duas horas e meia. Aterrou no Aeroporto Sá Carneiro ao fim da manhã, fustigado por uma chuva miudinha. Não era um aeroporto de muito movimento e, entre a saída do avião e o controlo alfandegário, decorreram pouco mais de quinze minutos.
A última etapa era a recolha da bagagem nas passadeiras criadas para o efeito. Aproximava-se o momento da separação.
Enquanto esperavam que malas e sacos começassem a brotar para a passadeira, Clara telefonou a Dolores a avisar que já chegara. Em resposta, soube que o motorista da família já a esperava à saída do aeroporto.
Rafael interrogava-se se Clara estaria a lamentar a iminente separação ou se lhe era totalmente indiferente. Não dava sinais de se importar que depois de recolherem as malas pudessem nunca mais se voltar a ver. Não era o local ideal, mas aquela conversa tinha de acontecer.
— Clara!
— Sim?
Ele ia para expor os seus sentimentos, mas vacilara nos instantes finais.
— Vais voltar a Londres, depois do funeral? — acabou por perguntar.
— Ainda não sei. Tudo depende de como ficaram as coisas com a morte do meu pai. Alguém tem de tomar conta dos negócios da família. — Fez uma expressão agastada. — Não faço ideia.
— Gostava de te voltar a ver. — confessou ele.
Clara sorriu e aquele semblante terno regressou ao seu rosto.
— Sim. Também gostava muito.
As malas começaram a sair para a passadeira.
Rafael concentrou-se nas palavras, esforçou-se para ser o Rafael habitual, seguro e confiante. Num tom firme, disse:
— Quero que saibas que foi tudo muito especial. Não quero que isto tenha sido um caso de uma noite.
Ela desviou o olhar, incapaz de o encarar. Fez um gesto para recolocar os óculos escuros a esconder-lhe os olhos, mas teve a sensatez de que isso não seria correcto, naquele momento. Encarou-lhe o olhar sem se importar com o regresso das lágrimas.
— Sinto-me mal com tudo isto. — afirmou. Antes que ele contestasse, fez um gesto para que a ouvisse. — Não tem nada a ver contigo. Sinto-me mal por me estar a sentir feliz contigo, quando deveria estar a sofrer pela morte do meu pai.
— Tu estás a sofrer com a morte do teu pai. — argumentou Rafael. — E não me parece que estejas a ofender a sua memória por estares feliz. Não me digas que o teu pai não te quereria feliz ao invés de te ver em lágrimas?
— Não é isso...
— Ouve, Clara. É-me importante que saibas que és especial para mim. Quero conhecer-te melhor.
Ela soltou uma risada pelo meio dos soluços.
— Ainda melhor? Acho que já me conheces toda.
Ele retribuiu o sorriso.
— Sabes ao que me refiro.
Clara assentiu.
— Vou ter alguns dias complicados. — partilhou, retomando a seriedade. — Vai ser o funeral... Depois há sempre coisas a tratar. Sou a sua herdeira, devem querer colocar-me a par de tudo. Enfim... Peço-te paciência. Dá-me uns dias. Temos o contacto um do outro. Quando eu sentir que é altura, que estou preparada... Eu ligo-te. Concedes-me esse desejo?
— Claro que sim.
Clara abraçou-o e beijaram-se com muito amor.
As malas de ambos surgiram na passadeira. Rafael puxou ambas. Caminharam lado a lado até à saída do aeroporto.
Clara viu de imediato o carro da família e o seu funcionário. Voltou-se de novo para Rafael e deu-lhe um último beijo de despedida, um beijo apaixonado, um beijo profundo. Tiveram dificuldades em se afastar. E quando o conseguiram, Rafael cravou os olhos nos dela.
— Eu amo-te, Clara!
A declaração surpreendeu Clara. Fê-la hesitar. Rafael esperou por uma reacção semelhante à dessa noite, "vamos com calma". Ela tornou a eliminar a distância entre eles e beijou-o novamente, despedindo-se com a frase que ele jamais esqueceria:
— Duvido que me ames tanto quanto eu te amo a ti!
2.1
— É exequível ou não?
A pergunta era do engenheiro Pinto Henriques e dirigida ao seu ministro da Defesa, o marechal Costa Almeida, o qual observava um mapa da região metropolitana de Lisboa.
A reunião acontecia no gabinete do primeiro-ministro, à volta da mesa arredondada instalada para assuntos que não exigissem todo o concelho de ministros.
— Cercar a cidade de Lisboa? — questionou o militar. — Tudo isso só para afastar o Presidente da República do cargo? Porque não lhe metem um tiro nos cornos?
— Outro... — proferiu baixinho Raimundo Antunes que também assistia.
— Não podemos assassinar o Presidente. — contestou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Coelho Ferreira, o qual também fora convocado para a reunião. — A comunidade internacional caía-nos em cima.
Coelho Ferreira era um homem franzino, típico diplomata e não tão faccioso da doutrina nacionalista lusitana quanto os seus pares. Tinha mais ou menos a mesma idade de Raimundo Antunes e muito mais classe.
Costa Almeida olhou para ele com desdém. Envergava orgulhosamente a sua farda militar e tinha uma postura de quem parecia ter engolido o cabo de uma vassoura. Usava um cabelo curto grisalho e o rosto era frio onde se destacava o olhar gélido. Era o mais velho dos presentes, um septuagenário completamente fanático da doutrina militar e defensor da governação feita por militares.
— Arranjem um bode expiatório. — sugeriu.
— Ninguém iria acreditar que não estávamos por detrás disso. — argumentou Raimundo Antunes.
Impaciente, Pinto Henriques insistiu na pergunta:
— É exequível ou não?
Costa Almeida tornou a olhar para o mapa, debruçou-se sobre a mesa e explicou:
— Teremos de criar uma zona de fronteira. Parece-me que a melhor estratégia é usar a CRIL como linha divisória. Podemos espalhar veículos militares em toda a via, desde a ponte Vasco da Gama até Algés.
— Parece suficiente. — concordou Raimundo Antunes, olhando para Pinto Henriques e procurando o seu aval.
— Sim... — concordou o primeiro-ministro. — E a sul?
— Bloquearemos os acessos às duas pontes e colocaremos as fragatas militares no Tejo para controlar qualquer travessia. — respondeu prontamente o militar.
— Tanta coisa para obrigar o Presidente a demitir-se? — questionou Coelho Ferreira. — Sitiar a capital?
— Não se trata só da demissão daquele estupor. — esclareceu Pinto Henriques. — Depois de o apanharmos, isso será fácil. É mais para controlar alguma reacção internacional.
— Vão protestar, mas nenhum país tomaria uma atitude bélica contra nós. — insistiu Coelho Ferreira. — É uma questão interna.
— Ó Ferreira! — irritou-se Pinto Henriques. — Se a UE tomar o partido do Flávio, vai manietar-nos com os cortes dos financiamentos ao país. A União Europeia jamais admitiria um golpe de estado num país membro da União. Já para não falar que, em resultado disso, o FMI e o BCE fodiam-nos logo.
— Sim… — concordou o ministro dos Negócios Estrangeiros. — Porém, não me parece digno usarmos os nossos cidadãos como reféns…
— É apenas para condicionar a comunidade internacional, Coelho.
— Mesmo assim, Raimundo, não me parec…
O líder do SIALE interrompeu-o com deselegância, agastado com aquele fuinha que nada tinha a ver com o estilo dos verdadeiros nacionalistas lusitanos. Revelando entusiasmo, Raimundo Antunes referiu:
— Seja como for, é uma oportunidade para eliminar a oposição.
Coelho Ferreira arregalou o olhar, mas não lhe foi permitido verbalizar nada.
— Sim. — confirmou o primeiro-ministro. — Vamos prender todos os deputados do MPP e aprovar um decreto a ilegalizar o partido.
— Com que argumento? — questionou o ministro da pasta internacional.
Não obteve resposta.
Costa Almeida pigarreou, chamando a atenção para si.
— O cerco servirá para impedir entradas e saídas, correcto?
Pinto Henriques ponderou a questão, uma vez que não queria revelar a totalidade do plano maquiavélico que engendrara com o seu MAI. Raimundo respondeu por si:
— Iremos controlar as entradas e saídas. Os militares devem impedir a saída de todos os naturais de Lisboa, bem como todos os estrangeiros...
— Isso é uma loucura. — interrompeu Coelho Ferreira. — Isso sim, reter cidadãos de outros países é que é motivo para uma intervenção contra nós.
— Não são turistas, pá! — insurgiu-se o líder do SIALE. — Esses deixamos sair para que voltem para a terra deles. Estou a falar dessa corja de imigrantes que andam a chular este país.
— Não acredito. Vocês querem fazer uma limpeza étnica?
— Ó Ferreira! — chamou Pinto Henriques. — Tem lá calma. Não é nada disso. Não se trata de etnias. Somos todos portugueses, excepto esses... — Fez um gesto de desdém, desistindo de os adjectivar. — Vamos reter os lisboetas e essa estrangeirada porque precisamos de ter reféns na cidade. Assim que se souber do cerco, vai tudo querer sair. De nada nos serve uma capital vazia. — O MNE abanou a cabeça, descrente. — Ó Ferreira, faz mas é o teu trabalho. Sê um diplomata e vai mantendo o estrangeiro satisfeito com as tretas que lhes vamos passando.
— Continuo a não perceber o cerco. — Coelho Ferreira não desistia com facilidade. — Para quê tudo isso, se só queremos afastar o Flávio de Melo?
— Estamos a implementar uma ditadura. — explicou Raimundo Antunes num tom que fazia o outro parecer um retardado. — Ainda agora falámos sobre isso. Achas que UE vai ficar impávida a ver um estado-membro implementar algo que vai contra todos os seus princípios?
— Tal como referiu o senhor engenheiro, cortavam logo todos os apoios financeiros a Portugal! — A afirmação veio de Laurentino Pinto, o ministro das Finanças, outro dos presentes que se mantivera calado até ao momento. Era o mais novo de todos, aspecto acanhado, pouco falador e um génio com os números. — Na prática, iriam combater-nos a tentar arruinar-nos.
Pinto Henriques abriu os braços e olhou para o seu MNE, dizendo:
— Percebes agora, Ferreira? O cerco é a nossa garantia para que não nos tentem lixar.
Coelho Ferreira abanou a cabeça, discordando do plano, mas consciente que não venceria aquela contenda. Desistiu de argumentar e afastou-se para uma posição de observador.
— E quanto tempo preveem para esse cerco? — quis saber o marechal.
— Meia dúzia de dias. — mentiu o MAI. — Em menos de uma semana, nomeamo-lo Presidente da República, aniquilamos o MPP e alteramos a Constituição para que o PNL fique com poder ilimitado para colocar o país nos eixos.
— Esta operação militar vai custar uns milhões aos cofres do Estado. — avisou Costa Almeida. — Serão precisos muitos militares, carros de combate e navios. Já para não falar nas munições, caso as coisas se compliquem.
— Nada se vai complicar! — exclamou Raimundo Antunes com segurança.
— Nós não temos dinheiro para isso! — alertou Laurentino Pinto. — O Orçamento do Estado não comporta isso.
— Tiras de onde for preciso. — ordenou Pinto Henriques. — Quando as coisas voltarem ao normal, estabilizamos as contas.
O ministro das Finanças não se opôs, não era homem com fibra para uma atitude dessas. Se queriam que ele desse o dinheiro todo aos militares, ele assim faria, nem que para isso o retirasse à Saúde, à Educação... Onde tivesse de ser.
Não havia muito mais a dizer ou a planear. Cabia agora ao marechal Costa Almeida tomar as medidas necessárias para colocar o plano em prática. E foi com esse compromisso que se despediu de todos e abandonou o gabinete. Coelho Ferreira aproveitou para não perder mais um minuto que fosse ali, no meio daquele grupo de loucos. Mesmo assim, iria empenhar-se em cumprir a sua parte do plano. Por fim, já com a cabeça a ponderar números, a pensar onde tirar e onde pôr o dinheiro dos cofres do Estado, Laurentino Pinto também saiu do gabinete do primeiro-ministro. Somente Raimundo Antunes permaneceu.
— O teu homem? Já regressou? — questionou Pinto Henriques, logo que ficaram sozinhos na grande sala. O outro assentiu. — E?
— Foi um sucesso!
— Ainda bem.
O líder do SIALE olhou para o seu chefe e questionou:
— E a questão da Igreja? Falaste com o Rathesleon?
— Ainda não. Vou marcar uma audiência com ele. — respondeu Pinto Henriques. — Sabes que o gajo gosta de se fazer importante. Por isso, vou agir como se ele, de facto, fosse importante.
— Ele é importante!
— Sim. Para os nossos planos, ele é importante. — concordou o primeiro-ministro. — Só espero que o consiga convencer. Sei que o Patriarcado é importante para ele, mas...
— Achas que poderá rejeitar?
— Pode recear que a situação lhe fuja ao controlo. Não te esqueças que ele, por muito importante que seja em Portugal, não passa de mais um peão do Vaticano. Tem ambições de chegar ao Colégio dos Cardeais.
— Receias que possa recusar.
— Gostava de ter mais garantias.
Raimundo Antunes sorriu. Sem perder tempo, abriu a sua mala diplomática e retirou uma pequena pasta com algumas folhas, as quais entregou ao outro.
— O que é isto, Raimundo?
— Lê. Se não o convenceres com o Patriarcado para Braga, talvez o atraias com isso.
Pinto Henriques observou o relatório que o MAI lhe passou. Leu atentamente, não escondendo alguma surpresa ao receber aquela informação.
— Chantagem? — questionou Pinto Henriques.
— Não! — refutou completamente Raimundo. — Iríamos criar um inimigo. Proponho que lhe alimentemos o vício. — Sorriu de forma demoníaca. — Não nos faltará produto entre os reféns.